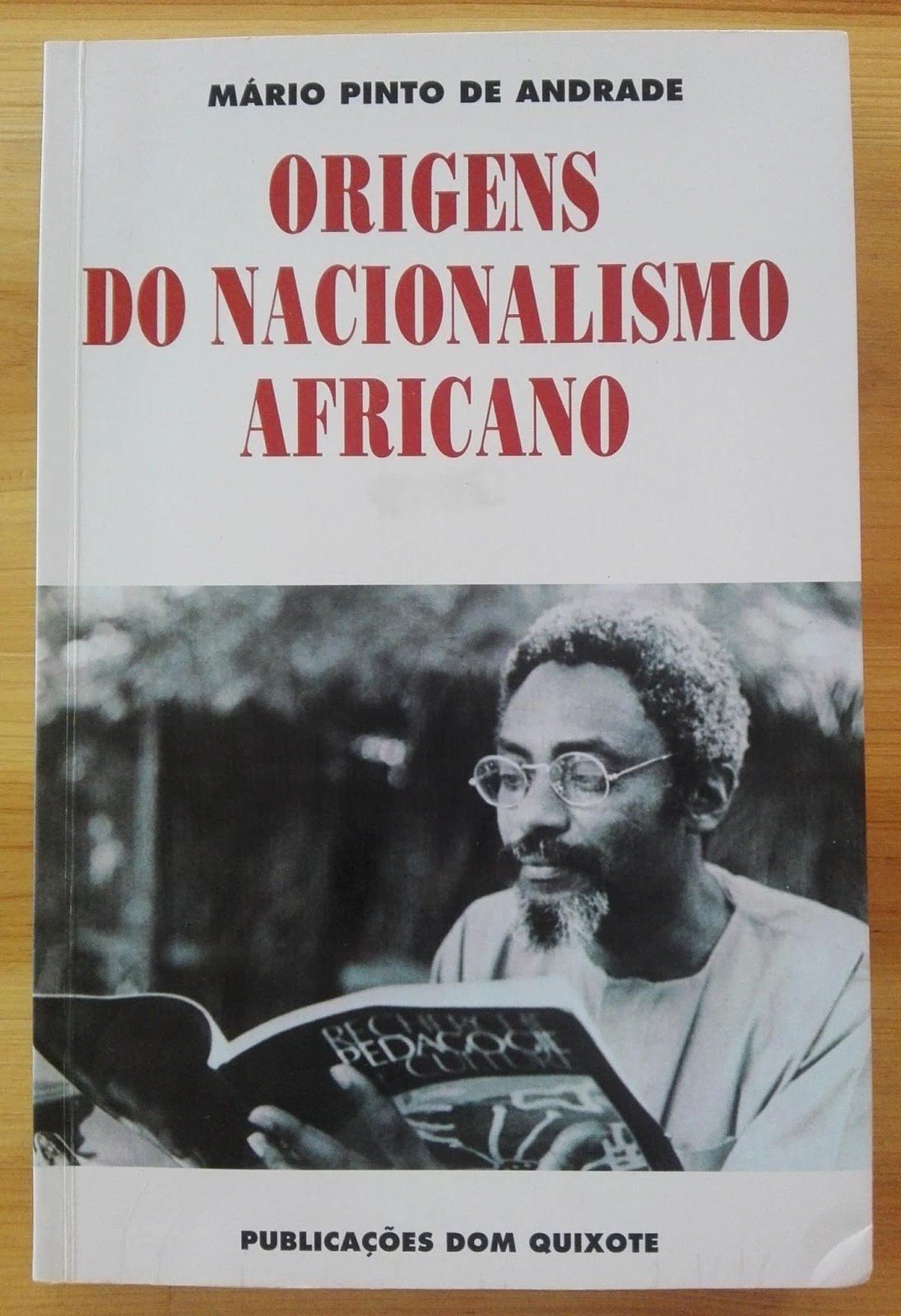HISTÓRIAS
Racismo em Portugal comprovado por assinatura: onde está a sua?
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.
Anunciar duas pessoas negras como se fossem mercadoria, à semelhança de velhos leilões escravocratas, tornou-se tentador para Tânia Laranjo. “Não resisto”, escreveu em 2019 a jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, aproveitando a febre consumista da “Black Friday” para divulgar a sua “promoção especial leve 2 e não pague nenhum”.
A parangona, exibida no Facebook com os rostos do dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, e da então deputada Joacine Katar Moreira, viralizou entre partilhas, reacções e comentários de ódio, e, mais de cinco anos depois, permanece impune. Apesar de a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) ter condenado Tânia Laranjo ao pagamento de uma coima de 435,76€ por “prática discriminatória em razão da cor da pele”, a decisão foi contestada pela repórter e o desfecho não se adivinha reparador.
Ainda assim, poderia ser pior: 80% dos processos instaurados pela CICDR acabam arquivados, segundo um estudo do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que analisou denúncias nas áreas da educação, habitação/vizinhança e forças de segurança feitas entre 2006 e 2016, e encerradas até Fevereiro de 2020.
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projecto “Combat - O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação anti-discriminação”, e demonstra a pertinência da Iniciativa Legislativa Cidadã promovida pelo Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo e a Xenofobia (GAC).
“O objectivo é fazer alterações ao Código Penal, reforçando o combate à discriminação e aos crimes praticados em razão da origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica”.
A proposta, explicam ao Afrolink os juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram o grupo de especialistas que redigiu o texto, resulta de um processo amplamente discutido e participado.
“Houve um primeiro momento em que verificámos todas as opções jurídicas que tínhamos em cima da mesa”, reconstitui Nuno, adiantando que a ideia inicial de criar uma nova lei sobre esta matéria foi preterida pela opção de introduzir mudanças ao artigo 240.º do Código Penal, que enquadra a discriminação e incitamento ao ódio e à violência.
“É mais simples alterar apenas um ou dois artigos, do que estarmos a criar um diploma novo”, reforça, sem nunca perder de vista o propósito. “A Iniciativa Legislativa Cidadã exige um mínimo de 20 mil assinaturas que, do ponto de vista dos movimentos associativos, é um objectivo muito difícil de conseguir, daí a preocupação de agregar o maior número de pessoas possível, quer entre nós, quer lá fora”.
Convencer a opinião pública
A força mobilizadora, acrescenta Anizabela, passa pela capacidade de conquistar a “aceitação da opinião pública, e da própria Assembleia” da República.
“Temos plena consciência que há muitas outras reivindicações a nível legislativo que deixámos de lado, áreas que ficam em aberto, como a protecção das vítimas, mas desta forma achámos que seria mais fácil convencer as pessoas”.
O processo ganhou expressão há um ano, a partir da manifestação “Vota contra o Racismo”, embora as primeiras conversas sobre uma concertação viessem de 2023.
“Tem sido um tema recorrente para as discussões do SOS Racismo esta questão da criminalização. Aliás, mesmo a lei que existe actualmente, e que queremos rever, já foi um trabalho muito empurrado pelos movimentos, e pelo SOS”.
A dinâmica impulsionadora da sociedade civil volta a sobressair nesta Iniciativa Legislativa Cidadã.
“Por um lado, abrimos a proposta ao debate público”, explica Anizabela, revistando as etapas iniciais: “Criámos um QR Code que ia parar a um formulário, para recolhermos opiniões dos colectivos e de todas as pessoas que se quisessem manifestar”.
O período de auscultação acabou por se prolongar porque “as pessoas sentiram necessidade de conhecer melhor o tema, de se apropriarem mais da questão”, nota a jurista, acrescentando que esse tempo também foi essencial para se reflectir sobre a melhor abordagem jurídica.
Além de 20 mil assinaturas
“Ainda bem que o processo foi demorado, porque assim permitiu mastigarmos bem tudo e conseguirmos chegar a um consenso”, aponta Nuno, de novo voltado para as metas.
“Obviamente que o objectivo último é fazer chegar à Assembleia as 20 mil assinaturas, para dar início a um processo de discussão e obrigar o Parlamento a debater esta proposta”, assinala, identificando outros ganhos. “Isto é também um pretexto, uma ferramenta excelente para, pelo menos durante um ano, nós conseguirmos ter este assunto discutido em vários locais, em vários fóruns. Ou seja, a ideia é também que se possa reflectir sobre a questão do Direito Penal, sobre a questão do racismo, e abrir caminho mais para a frente”.
O debate está lançado, e as assinaturas podem ser recolhidas presencialmente, em papel, por acção dos mais de 80 colectivos que compõem o GAC, e online, pelo site da Assembleia da República e das petições públicas.
“Mesmo que cheguemos ao fim da Legislatura sem as 20 mil assinaturas, as que tivermos não se perdem. Podemos dar continuidade ao processo na Legislatura seguinte”, clarifica Anizabela.
“No final, vamos juntar todas as assinaturas na plataforma da Assembleia da República, já com aquela margem dos 5% que nos dizem que é para as que não correm bem. Depois, tendo as 20 mil, somos chamados a apresentar a proposta em plenário”.
Primeiro na generalidade e a seguir na especialidade, a discussão, antecipa a jurista, “vai exigir alguma negociação e capacidade de persuasão”.
Ao mesmo tempo, nota Anizabela, “algumas entidades e alguns partidos terão que se posicionar, e será muito interessante perceber quem são essas pessoas que se vão posicionar contra as práticas racistas serem crime”.
Medo da criminalização
Por enquanto, a oposição à iniciativa evidencia-se no volume ainda inexpressivo de assinaturas, justificado, aqui e ali, com receios de que a criminalização do racismo acarreta mais custos do que benefícios.
Por exemplo, há quem tema que a alteração ao artigo 240.º do Código Penal possa ser instrumentalizada contra activistas anti-racistas, e não falta quem receie a criação de um estado policial.
No entanto, Nuno Silva afasta esses e outros cenários. “As condutas que colocamos nesta proposta de alteração, como passíveis de serem criminalizadas já constavam na lei como ilícitas. Portanto, não vai haver um extra policiamento de condutas. O que queremos é dar-lhes consequências diferentes”.
O repertório de práticas sob escrutínio inclui, entre outras, a recusa ou condicionamento de venda, arrendamento ou subarrendamento de imóveis, motivada pela origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.
Portanto, insiste Nuno, “quando dizem, mas vocês agora vão criar uma espécie de Estado policial com uma super vigilância, respondo que não. As condutas que são ilegais são exactamente as mesmas, o que nós queremos alterar é a forma como o Estado as interpreta, e como é que nós, como sociedade, olhamos para elas”.
O jurista defende que não avançar com a alteração proposta implica continuar a equiparar um carro mal-estacionado a agressões à honra e à dignidade.
Sobre a possibilidade de a lei se virar contra activistas anti-racistas, Nuno considera uma hipótese descabida.
“Quem é racista e quem tem comportamentos racistas é que pode estar preocupado porque vai ter aqui uma consequência diferente do que uma mera coima a pagar”.
Educar para consciencializar
Além de se dar maior gravidade às condutas, criminalizando-as, Anizabela lembra que as mudanças terão de passar sempre por um “trabalho ao nível das escolas de direito, das universidades, das magistraturas, da formação dos magistrados e da formação dos advogados”.
Confiante na transformação, a jurista sublinha que hoje em dia já temos “magistrados que lamentam não poderem ir mais longe”, na aplicação da lei, e reconhecem as limitações do artigo 240.º do Código Penal. Em concreto, Anizabela nota que é fundamental retirar a exigência de que a discriminação, para ter enquadramento criminal, tem de ocorrer publicamente, ou por qualquer meio destinado a divulgação.
Actualmente, é nessas estreitas circunstâncias que os actos racistas são criminalizados, a exemplo do que aconteceu no caso que envolveu os filhos dos actores brasileiros Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.
Agredidos por Adélia Barros, que os chamou de “pretos imundos”, as crianças, na altura com 7 e 9 anos, tiveram de ouvir vários insultos, como: “Portugal não é lugar para vocês! Voltem para África e para o Brasil."
Condenada a quatro anos de pena suspensa e ao pagamento de uma indemnização de 14.500 euros, a que acrescem 2.500 euros para o SOS Racismo, a agressora está ainda obrigada a um internamento para tratar o alcoolismo.
Este desfecho, a que não será alheio o mediatismo dos protagonistas, comprovado por intervenções dos Presidentes da República de Portugal e do Brasil, dificulta o entendimento sobre a necessidade de endurecer a lei.
Racismo não é crime - a luta continua!
“Estamos a ser acusados de desinformação, de sermos mentirosos”, lamenta Anizabela, acrescentando: “Temos pessoas que dizem: ‘Claro que o racismo é crime, porque senão, como é que o André Ventura tinha sido condenado? Portanto, as pessoas vão buscar casos de condenações por racismo para dizer que já existem, e nós vamos desconstruindo”.
Impõe-se continuar a fazê-lo, destaca Nuno, a partir das experiências já vividas em tribunal.
“Uma coisa que sempre me afligiu muito nos julgamentos que fui acompanhando é a forma como, quer procuradores, quer juízes, sentem estes temas”, diz. “Parecem demasiado despreocupados com isto e, sobretudo, parece que remetem muitas vezes estas questões para acontecimentos singulares, em que acontece um em 1000 casos, e, portanto, não lhes dão a devida atenção”.
Atento às limitações presentes em qualquer lei – “temos consciência que nós não vamos fazer nenhuma revolução só com essa alteração legislativa” –, Nuno confia no seu bom contributo.
“As práticas racistas não vão deixar de existir, nem as instituições vão mudar. Portanto, esta alteração da lei não vai resolver o problema do racismo estrutural, mas há uma diferença relativa relevante, não só do ponto de vista da autocensura, mas também da forma como nós, a partir daqui, podemos começar a construir uma sociedade um bocadinho melhor”.
A esperança vai buscar inspiração a outras frentes. “Lembro-me, por exemplo, do caso da violência doméstica, que há uns anos nem sequer era crime. Aliás, era permitido aos homens exercerem violência sobre as mulheres. Depois, começámos a ter algumas alterações legislativas para contornar isto, e foi criado um crime específico para esta matéria”, recorda o jurista, sem saltar etapas. “Ainda assim, durante muitos anos, o crime dependia de queixa. Portanto, a pessoa que tinha sido violentada teria de apresentar queixa para haver investigação e, a certa altura, alterou-se esse requisito e o crime passou a ser público”.
A alteração trouxe muitos benefícios, reconhece Nuno, lembrando que a luta continua. “Continuamos a ter decisões profundamente machistas, profundamente patriarcais, mas as mesmas são sindicáveis, ou seja, é possível mudar as decisões de um tribunal pelos tribunais superiores, e passamos a ter uma base legal para combater”.
Não dar a nossa assinatura por isto, é escolher o racismo e proteger os racistas.
Pelos cabelos de Talaku nasceu uma marca, que cresce entre fios de Amor
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.
Neus, na apresentação em Lisboa, fotografada por Vivian Machado
De mochila às costas, e com a filha pela mão, Neus Rubau não tinha uma rota nem um mapa, mas sabia que tinha de partir de Girona em busca de orientação. Completamente perdida, socorreu-se, para começar, das duas únicas lojas que, na vizinha e maior Barcelona, pareciam abrir algum caminho.
“Na minha cidade não havia nada, mesmo nada”, recorda ao Afrolink, de volta ao desespero que sentia por não conseguir dar resposta a uma necessidade muito concreta: cuidar do afro de Talaku, a sua filha.
Hoje, muitas idas e vindas depois, esta é uma história que se conta com marca própria: a Curly & Roll, lançada a partir da experiência da Talaku.es, loja online baptizada à letra do nome da criança que trocou às voltas ao destino de Neus.
Até à adopção de Talaku, quando a menina tinha três anos, a família era integralmente composta por pessoas brancas, quase na totalidade sem literacia étnico-racial.
Não era o caso de Neus que, para melhor acolher a filha, originária do Quénia, decidiu informar-se sobre a sua identidade africana e negra, através da ligação a colectivos que se dedicam a esse trabalho de consciencialização.
“Tudo aquilo que me avisaram que iria acontecer aconteceu”, partilha, referindo-se a um quotidiano de microagressões racistas. Os episódios acumulam-se no baú das memórias, de onde a espanhola retira uma interecção num parque infantil.
“Um dia, a Talaku veio ter comigo a dizer que as meninas não queriam brincar com ela por ser negra. Aquilo marcou-me”.
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra, e aquilo que começou a viver e a sentir, depressa Neus percebeu que iria precisar de uma espécie de “reprogramação”.
Contrariando o instinto mais primário, de confrontar as mães das crianças com o comportamento das filhas, a empresária optou pela via pedagógica.
“Em vez de apontar para o racismo, perguntei às meninas porque é que não queriam brincar com a Talaku, se era apenas por ter uma cor diferente. Acho que aí perceberam que aquilo não fazia sentido, e, pouco depois já estavam todas a brincar”.
Questionar para transformar
Se a ‘voz da razão’ dessa história fosse negra, e não branca, o desfecho teria sido o mesmo? Teriam as crianças ouvido, sem que as suas mães interferissem? Neus nunca parou – nem pára – de fazer perguntas.
Na viagem que se habituou a fazer a Barcelona, por exemplo, para abastecer a mochila de produtos capilares, o questionamento era constante. O que comprar? Como se utiliza este frasco? Em que quantidades?
As respostas foram chegando à velha moda do “aprender fazendo”.
“Ia experimentando no cabelo da Talaku, e fui procurando informação no YouTube”.
Aos poucos, a insistência e prática começaram a dar resultados: além de encontrar o seu método para cuidar do afro da filha, Neus começou a partilhar, com outras famílias, as suas aprendizagens.
Primeiro de modo informal, em grupos de pais adoptivos e projectos de literacia racial, aos quais já estava ligada, e depois através da loja.
A Talaku.es nasceu em 2013 e, no final do ano passado apresentou-se em Portugal, mercado onde pretende expandir o alcance.
“Em Espanha o produto já está estabelecido, e a vender muito bem”, nota Neus, destacando uma das novidades do projecto: o desenvolvimento de uma marca própria e vegana. “Estamos em 100 salões de cabeleireiro com os nossos produtos Curly& Roll”.
A oferta, disponível na loja online – onde 2% da vendas revertem para ONG’s –, deu resposta a uma contrariedade que, com o crescimento da Talaku.es, se acentuou: a incapacidade de a loja repor stocks de artigos que não produz.
“Ter a nossa marca permite-nos responder melhor à oferta, e os nossos produtos têm a versatilidade de funcionar para todos os tipos de cabelo, do mais cacheado ao mais crespo”.
Mais do que falar sobre os benefícios do catálogo Talaku, Neus faz questão que os mesmos sejam comprovados, e, por isso, a apresentação da Curly& Roll em Lisboa aconteceu com a presença de Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos.
“Queremos que os profissionais em Portugal tenham formação nos nossos produtos”, antecipa a espanhola, sem nunca perder de vista o lugar da aprendizagem.
“Hoje a Talaku já tem 17 anos e decidiu alisar o cabelo”, conta, afastando imediatamente qualquer leitura derrotista ou desencantada.
“A minha filha sempre gostou muito de fazer penteados. Sei que está a adoptar um novo visual, não por rejeitar a sua identidade ou por querer ser aceite, mas porque diz que quer uma alternativa mais prática”.
A motivação faz toda a diferença, sublinha Neus, de volta ao dia em que, com apenas quatro anos, Talaku tentou “limpar” a cor, esfregando o rosto com saliva.
“Nada nos prepara para isso, mas temos de ser capazes de reagir e educar as nossas crianças para aceitar e amar quem são, e como são, e não verem nada de errado nas diferenças”. Todas especialmente humanas.
Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos, fotografada por Vivian Machado
Os planos de Artemisa Ferreira para documentar Cabo Verde
Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".
Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".
Apresentação d’ “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, no espaço Mbongi67
Assombra memórias como o pior dos nossos pesadelos: por um lado, vive-se com o receio de que se concretize – ou melhor, que se repita – por outro, faz-se de tudo para o esquecer. Herdeira deste temor colectivo, gerado a partir de um capítulo trágico da História de Cabo Verde, Artemisa Ferreira decidiu confrontá-lo.
O resultado vê-se no documentário “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, filme que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40”, período no qual o arquipélago africano perdeu quase metade da população.
“Este é um passado que não é muito falado. Por isso muitos jovens – e não só – desconhecem a realidade daquilo que foi e ainda é Cabo Verde”, nota a cineasta, quebrando décadas de um pesado silêncio.
“O país passou por uma seca severa, em que a partir do terceiro ano sem chover nada, as pessoas começaram a morrer de fome”.
Quase oito décadas depois, a cabo-verdiana assinala que “a conjuntura internacional mudou, mas a falta de chuva é uma realidade que persiste no país. Por isso, é importante conhecer os efeitos das secas, e encontrar respostas para o futuro”.
Licenciada em Tecnologias de Informação e Comunicação e Mestre em Realização Cinema e Televisão, Artemisa procura dar o seu contributo a partir da sétima arte.
“Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde”.
Identidades e globalidades
O interesse pelo desconhecido levou-a a debruçar-se sobre a realidade dos jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, comunidade com a qual se cruzou durante o Ensino Superior, cumprido em universidades lusas.
Desse encontro resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras.
“Percebi que em Portugal esses jovens não são considerados portugueses, e quando chegam a Cabo Verde também não são considerados cabo-verdianos. Então quis saber como se sentem”.
Entre mundos, a indefinição e os conflitos de identidade acabaram por surpreender Artemisa: enquanto os filhos de pai e mãe cabo-verdianos diziam sentir-se portugueses, aqueles em que um dos progenitores era português manifestavam uma maior identificação com Cabo Verde.
“Havia mais dúvidas naqueles em que ambos os pais eram cabo-verdianos”, sublinha a realizadora.
Depois dessa experiência, documentada em 2013 no âmbito do mestrado, a também escritora e professora universitária apresentou a curta de ficção “Oji”.
A produção, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares, venceu o prémio revelação no Plateau – Festival de Cinema da Praia 2015, e, dois anos depois, conquistou o troféu de melhor montagem na I Mostra Competitiva do Cinema Negro Adélia Sampaio, no Brasil.
Valas coloniais
Agora é com os “Os 47’s - depoimentos que ficaram” que Artemisa nos continua a prender ao grande ecrã.
“A narrativa é construída por entrevistas com pessoas que passaram pela fome, outras que não passaram por isso, e especialistas de diferentes áreas de estudo”, explica a cineasta, que, com esta obra, revela “as diferentes formas de luta dos cabo-verdianos para sobreviver”.
Os relatos incluem o chamado desastre da assistência, eternizado na cidade da Praia, mas não adequadamente memorializado.
"As pessoas vêem o monumento [às Vítimas da Fome e do Desastre da Assistência de 1949], mas não sabem o que representa", lamenta a também professora universitária, de lição voltada para um dos episódios mais desafortunados que marcaram os destinos do país.
"A população ia à procura de apoio, de algo para comer. Nesse local [onde funcionavam os Serviços Cabo-verdianos de Assistência], havia um muro que acabou por ruir e desabou por cima de quem ali estava. Eram crianças, jovens, idosos, grávidas...muita gente".
Os registos, aponta Artemisa, referem cerca de 230 mortes, número que, acredita, peca por defeito: "Tivemos feridos em estado grave que não sobreviveram, e não estão contabilizados".
Nessa época, morria-se sob o jugo colonial português, enquanto a propaganda ocultava os crimes do Estado Novo, regime que mantinha uma política de auxílio zero aos territórios ocupados.
"Segundo alguns relatos, o que Salazar fez na altura foi mandar abrir valas, mais e mais valas para enterrar a população".
A história conta-se n' "Os 47’s - depoimentos que ficaram”, que apresenta, em 90 minutos, mais de 70 testemunhos, reunidos em sete anos de trabalho.
Naufrágios e resistências femininas
Pelo caminho, a cineasta recolheu tanta informação, que não descarta a hipótese de retomar alguns episódios apresentados no documentário.
É o caso, por exemplo, dos naufrágios que, nessa época, acabaram por ajudar a mitigar os horrores da seca. “O mais famoso é o do navio John E. Schmeltzer, que encalhou em Santo Antão”, aponta Artemisa, assinalando que a rota “seguia da Argentina para a Europa, com toneladas e toneladas de milho”.
Ao navegar por este passado de infortúnio, a realizadora percebeu também como as mulheres assumiram um papel fundamental no combate à fome. “É impressionante o que elas fizeram para sobreviver, e para que as famílias sobrevivessem”.
Os testemunhos incluem a história dramática de uma mulher que, durante dias, andou com o filho morto às costas. “Talvez assim pudesse receber um bocadinho mais de alimento”, calcula a realizadora, interessada em aprofundar essa e outras estratégias femininas de resistência.
“Quero levar estes relatos para a literatura”, antecipa, trazendo para a conversa outra expressão do seu trabalho artístico: a escrita.
Autora do livro de poemas “Desejo”, Artemisa também integra a colectânea poética “Cabo Verde-Galiza – Um Abraço Poético”, e, com a obra “Gruta Abençoada”, tornou-se a primeira escritora a publicar um livro inteiro de poesias eróticas em Cabo Verde.
Apesar de algumas críticas e resistências, a realizadora conta que o texto inspirou um grupo teatral de São Vicente a apresentar uma peça sonora.
“Somos conservadores quando falamos publicamente, mas não quando estamos nas esquinas com os amigos”, diz, afastando da sua abordagem leituras pornográficas.
“Não associo o erotismo à parte sexual ou carnal, mas sim ao belo. Para mim, tudo o que é belo é erótico”.
Inspiração literária
Entre os livros e o grande ecrã, o caminho de criação artística também encontra no ensino uma via de expressão.
“Trabalho com os meus alunos a adaptação da literatura cabo-verdiana para o cinema”, adianta Artemisa, professora na Universidade de Cabo Verde- UniCV.
No último ano lectivo, por exemplo, a obra “Mornas eram as noites”, de Dina Salústio, deu o mote para a apresentação de quase 12 documentários.
A inspiração literária promete ganhar expressão também na cinematografia da escritora, que está a trabalhar numa docuficção.
O projecto deverá concretizar-se através da Ceiba Produções, empresa criada por Artemisa para implementar as suas propostas na área audiovisual.
Os planos, revela a realizadora, incluem um documentário sobre o músico Renato Cardoso, já em construção.
Igualmente em movimento está a afirmação e consolidação da presença feminina neste sector. "Reunimos um grupo de nove mulheres, e criámos um espaço para nos apoiarmos no desenvolvimento dos nossos projectos".
Nasceu assim o “Koletivu Nhanha”, baptizado à letra da identidade de uma antiga combatente: Ana da Veiga, que liderou a chamada Revolta de Ribeirão Manuel, no início do século XX.
Popularizada Nhanha Bongolon, tornou-se um símbolo da força e resistência feminina contra a opressão colonial. Agora também activo na luta pela igualdade de género. Dentro e fora do grande ecrã.
À procura de Mário Pinto de Andrade, numa via de encontro com Sarah Maldoror
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”.
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”. A destacada herança ganha expressão a partir das actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”, um dos temas abordados na conversa com Henda, que, no final de 2024, após décadas em Angola, se mudou para Portugal. “Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, explica, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah. “Até 2026 já temos a agenda cheia”, conta a economista e socióloga, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029). “Acho impressionante a sua cumplicidade. Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.” O que ainda falta contar?
Henda Ducados, imagem da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”
Estava sempre agarrado a um livro, embrenhado em torrentes de leituras, anotações e pensamentos, num quotidiano que também não dispensava caminhadas para desanuviar e arrumar ideias. “Tenho essa memória muito vívida: o Mário era um homem de rituais”, recorda Henda Ducados, desfiando lembranças familiares que fazem parte da nossa História colectiva.
Filha de Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror, a economista e socióloga dedica-se, em conjunto com a irmã, Annouchka de Andrade, a compilar, preservar e divulgar o legado dos pais. Ou melhor: de Mário e de Sarah.
“Nunca me referi ao Mário como pai, nem à Sarah como mãe, porque fomos educadas assim”, explica, afastando desse tratamento qualquer leitura de distanciamento. “O afecto está cá quando falo neles. Simplesmente na nossa casa o hábito era diferente”.
Além de uma infância rodeada de livros, Henda recorda algumas peripécias próprias das lutas na clandestinidade.
“Cada sítio onde vivemos está associado a um evento histórico, e eu acho isso bastante interessante”, nota, começando pelo seu local de nascimento: Marrocos.
“Rabat [a capital] era a sede do Secretariado-Geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)”, assinala, antes de apontar para a localização seguinte: Argélia.
“Foi o palco das revoluções: todos os movimentos nacionalistas tiveram um escritório e uma presença muito grande lá. Lembro-me que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas a ir a vir, e que um dos líderes do americano Black Panther, o Eldridge Cleaver, era nosso vizinho”.
O ultimato argelino
Com a recordação de Cleaver assaltam memórias do génio materno: “Uma vez, a Sarah disse-lhe: podes entrar, mas nada de confusão aqui! Faz o favor de deixar a tua arma à porta, porque eu tenho filhas.”
A passagem pela Argélia acabou, contudo, por ficar marcada por outro ultimato: 24 horas para abandonar o território.
“A nossa saída do país foi dramática, porque a Sarah tinha ido à Guiné-Bissau, a convite do Amílcar Cabral, para fazer um filme sobre a luta do país. Lá no terreno, ela mudou o rumo do filme, porque viu que as mulheres tinham um papel muito importante. Então, filmou o trabalho das mulheres, e quando voltou a Argélia, houve uma polémica com o responsável”, descreve Henda, explicando que, embora a produção incidisse sobre o combate guineense, era financiada pela Frente de Libertação Nacional argelina.
“Não gostaram do resultado. Mas não foi isso que levou a Sarah a ser expulsa. Ela infelizmente não se conseguiu conter, insultou um general e acabou presa, com ordem para deixar o território”.
O episódio, que não teve um desfecho pior porque havia a influência de Mário, precipitou a mudança de mãe e filhas para Paris, onde acabaram por se estabelecer.
Para trás ficaram as imagens da discórdia, sem que, contudo, tenham sido esquecidas.
“Hoje esse filme está perdido, mas, recentemente, a minha irmã foi a Argélia, e fez um bom contacto ao nível do Exército, e ao nível da Cinemateca, para ver se conseguimos recuperar a película”.
Compreender Angola, pela escrita de Obama
A diligência faz parte do compromisso de preservação do legado paterno e materno, assumido pelas duas herdeiras.
“Na verdade, respondemos a uma demanda que tem sido excepcional”, conta Henda, assinalando o crescente interesse que a “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” tem despertado em todo o mundo.
“Criámos o projecto em 2020, quando a Sarah faleceu”, recua a economista, na altura ainda a residir em Luanda, destino que se impôs na sua trajectória há mais de três décadas.
“Foi uma escolha um pouco natural, porque o Mário tinha falecido em 1990, e, nessa altura, eu fui a Angola pela primeira vez, para o funeral”. A dolorosa experiência da perda acabou, dois anos depois, por precipitar a mudança.
“Quando acabei os meus estudos, em Chicago, disse: e agora? De repente, tive um grito interior, e senti que era necessário ir”.
O propósito da viagem, que durante muito tempo Henda não conseguiu explicar, revelou-se a partir de uma leitura. “Pode parecer anedótico, mas foi assim mesmo: eu estava a ler o livro do Obama, “Dreams of my Father”, e há uma parte, no fim da viagem que ele fez ao Quénia, em que está nas ruas de Nairobi, já preparado para regressar aos EUA, e sente o pai, consegue vê-lo num engraxador de rua, num motorista de táxi. E no fundo é isso…quando estive em Angola, senti-me mais próxima do Mário”.
A par do reforço da ligação ancestral, a também socióloga aproveitou a temporada angolana para co-fundar a Rede Mulher, aprofundar conhecimentos em microcrédito e descobrir novos sentimentos de pertença.
“É interessante porque quando o Obama chegou ao Quénia, pela primeira vez ninguém questionou o nome dele, que foi pronunciado como deve ser. Isso também aconteceu comigo”.
Apesar de o pai lhe ter explicado a escolha do seu nome – “sempre me disse que era saudade, não só de Angola, mas da mãe –, em Angola, Henda ganhou nova força identitária. Como num processo de renascimento.
“O óbito do Mário foi tão violento que essa foi uma forma de me curar”.
Mais do que lidar com o impacto da morte paterna – “perdi aí alguém muito chegado pela primeira vez” –, a economista reconhece agora que carregava, de forma inconsciente, o peso de não ter resposta a algumas questões, em relação ao percurso do pai, e a necessidade de conhecer as origens.
Legado na agenda
Hoje fixada em Lisboa, Henda explica que como Annouchka vive em Paris, a sua mudança para Portugal permite uma maior partilha de responsabilidades, na dinamização da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”.
“Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, sublinha, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah.
“Até 2026 já temos a agenda cheia”, nota, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029).
Para este ano, as novidades passam pela reedição, pela Letra Livre, da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”, e por um colóquio sobre o líder histórico, a acontecer em Junho na cidade brasileira de São Paulo.
Também em 2025 – em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe – está na calha o lançamento de uma compilação de textos do destacado pan-africanista, que sucede à estreia, em 2024, do documentário “Mário”, do americano Billy Woodberry.
“O filme é interessante porque retrata a vida do Mário, mas apenas dimensão política. Eu fiquei com a sede de querer ver mais do poeta, do humanista e do intelectual e pensador”, admite Henda, empenhada em dar a conhecer mais do pai.
Por exemplo, conta, “muita gente não sabe que o Mário ajudou a Sarah a escrever os seus primeiros dois filmes: Monangambé e Sambizanga. Mas foi ele que escreveu os diálogos, e que ajudou no roteiro”.
Amor de emancipação
A colaboração reflete uma das dimensões que, para a filha, importa aprofundar: “Eu acho essa parte da cumplicidade impressionante, porque é a cumplicidade de uma pessoa que não é africana, como a Sarah, que descobriu e abraçou a literatura angolana com ele, e abraçou a causa do movimento de libertação”.
Lembrando que a realizadora já tinha uma identidade construída antes de conhecer Mário, a economista assinala que também ele já era uma pessoa com obras publicadas.
“Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.”
O que ainda falta contar?
“Havemos ainda de descobrir mais”, acredita Henda, que se continua a surpreender com o legado que lhe corre nas veiais.
“A Sarah tem sido estudada há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas agora há mais pessoas a estudar, a criar cadeiras de cinema sobre o trabalho dela, e nós estamos a fazer palestras nessas universidades”, nota, traçando uma rota que já passou pelas prestigiadas Harvard e Princeton, e que em breve também estará em Yale.
Muda-se a geografia, da América para a Europa, e o interesse na realizadora mantém-se: os 45 filmes que integram a obra de Sarah têm sido seleccionados para vários festivais, processo indissociável do trabalho de restauração desenvolvido por Henda e Annouchka. A este estímulo para novas exibições, junta-se o recurso à tecnologia Blu-ray, via em utilização para facilitar o acesso de mais pessoais à marca Maldoror.
Já a assinatura Pinto de Andrade transporta ainda uma dimensão Kimbundu pouco analisada, visível, por exemplo, na letra da canção “Muimbu Ua Sabalu”, imortalizada em interpretações de Ruy Mingas e Bonga.
Mas muito mais do que um extenso e rico acervo, Mário deixou um caminho para a sua preservação. “Lembro-me que dizia sempre: ‘Atenção, às minhas notas, atenção aos meus cadernos’. Aliás, quando ele partiu, depositámos os documentos na Fundação Mário Soares/ Maria Barroso, e o pessoal ficou surpreendido, porque estava tudo muito organizado”.
Os impressionantes planos de conservação não deixaram sequer de fora o regresso à cidade de origem. “Eu gostaria que um dia tu me ajudasses...vamos criar uma associação no Golungo Alto, dizia-me ele, mas eu só olhava e respondia: o quê? O Golungo Alto? Tão longe! Era uma coisa que no meu imaginário não se poderia materializar”.
Hoje, a três anos do centenário do nascimento do líder histórico, as actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” demonstram-nos que tudo é possível.
“O contar da história é um compromisso”, sublinha Henda. “Uma pessoa não pode dizer: o meu pai não foi um escritor, a minha mãe não foi realizadora…não tenho nada para contar. Não! Todos nós temos uma história para contar. E eu acho que é muito importante contá-la, ter orgulho em quem somos, tentar compreender o nosso papel na sociedade, e como havemos de marcar a diferença”.
Sem encolhimentos de fronteiras: “Há muitas coisas para fazer e para melhorar, seja nos nossos países de origem, seja na diáspora”. Com legado.
Edição esgotada da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, que será reeditada pela Letra Livre
Televisão a branco e branco
Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?
Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?
Semanalmente, junto-me aos camaradas Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu n’ Os Comentadores. É um espaço integrado no AbrilAbril, também acessível via YouTube, e que parte de comentários feitos nas televisões, a que se soma um artigo publicado na imprensa escrita – não forçosamente de opinião.
Estou neste trio há mais de um ano, e, episódio após episódio, fui encontrando o meu lugar num território que, até aí, me era completamente estranho, e que sempre senti que me estava vedado.
Afinal, quantas pessoas negras assinam colunas de opinião política em revistas e jornais? Quantas têm espaço na TV portuguesa?
Vejo que a professora Luísa Semedo resiste nas páginas do Público, depois do afastamento abrupto da socióloga Cristina Roldão, mas não encontro nenhuma outra referência na imprensa escrita.
A ausência acentua-se quando ligo a televisão: à excepção dos programas desportivos, só me deparo com comentadores brancos.
Ressalva: os comentadores negros que aparecem a analisar futebol chegam à televisão já com expressão pública, pelas carreiras que tiveram nos relvados e/ou no comando técnico de equipas.
Sem essa projecção prévia seriam alguma vez considerados?
Foco na categoria “comentadores” porque, em teoria, ela tem subjacente o reconhecimento de intelectualidade, a que corresponde conhecimento, vivência e capacidade de interpretação e análise da actualidade, fundamentais para a construção de pensamento.
Sublinho “em teoria” porque, à luz da prática que tenho acompanhado nos diferentes canais de televisão – exercício que passou a integrar a minha digestão informativa diária por causa d’ Os Comentadores –, essa intelectualidade resume-se, regra geral, a sobranceria, vaidade e apelidos que acumulam privilégios, adornados, aqui e ali, por distinções curriculares que escondem longas cadeias de referenciações. Mas, apregoam eles e elas, o que vale é a meritocracia!
Uma ardilosa invenção segundo a qual, se não temos pessoas negras a comentar a actualidade política – e a ocupar outras posições de visibilidade e influência social –, é por não fazerem o suficiente para chegar lá.
E como quem decide goza do enorme privilégio de poder escolher não ver cores, continuamos a viver num mundo em que a televisão se pensa e vê a branco e branco, e em que a cobertura mediática ignora a presença negra, a menos que sirva para confirmar percepções de identidades.
Não estranha, por isso, que, a dar-se o milagre de nos chamarem para comentar a actualidade num espaço mainstream, o convite esteja invariavelmente amarrado a uma qualquer situação de racismo. O que não deixa de ser sintomático: por um lado, dizem-nos que não vêem cores, e, por outro, não nos conseguem reconhecer para além da nossa negritude.
Esta tem sido a regra, mas esta não tem de continuar a ser a regra. Da mesma forma que se abriu caminho – e bem – à opinião feminina no espaço público, é crucial que se faça o mesmo em relação às pessoas negras e a todas aquelas que continuam invisibilizadas.
Sei que a simples exposição às diferenças humanas não produz, por si só, a aceitação dessas diferenças, contudo, parece-me evidente que sem a desconstrução dos preconceitos associados a essas diferenças, continuaremos a viver numa sociedade de profunda desumanização do “outro”.
Se todos os tipos de pessoas trabalham, pagam impostos, arrendam e compram casas, consomem, constroem famílias, amam, sofrem, pensam, indignam-se, revoltam-se…porque é que na configuração do espaço público português, apenas as pessoas brancas são consideradas na multidimensionalidade humana?
O que sabemos é que a partir dessa subtracção de vidas se multiplicam os olhares de desumanização e a normalização de práticas discriminatórias, cristalizando-se percepções de subalternidade, incivilidade e criminalidade. Mas o que para tantos representa enviesamento, apagamento e silenciamento, continua a ser, aos olhos da branquitude “criadora de todas as causas e coisas”, um bom programa de fortalecimento e entretenimento de poder.
Cabe-nos, por isso, a nós, pessoas racializadas e aliadas, continuar a apresentar outros programas. Conscientes de que a revolução não será televisionada, mas precisa de ser imaginada. À imagem do que nos lembra Jonathan Horstmann, na citação que abre a newsletter desta semana: “A voz negra é forçada a ser imaginativa, caso contrário será silenciada”.
Nós por cá, reiteramos o compromisso de continuar a imaginar.
“Um Passado Presente” – para imaginar um futuro mais consciente e anti-racista
Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, Portugal-o construtor prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas.
Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, “Portugal-o construtor” prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas. Carlota Matos, artista e autora da proposta, explica de que forma: procurando “criar um espaço de diálogo”, em que se reflecte “sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje”. Acompanhada da mãe, Fátima Matos, que chegou a Portugal como “retornada”, em 1976; e do artista MoYah, que deixou Moçambique durante a guerra civil, terminada em 1992; Carlota sublinha o carácter agregador deste projecto. “Num contexto em que ainda há muito branqueamento da história, este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. O Afrolink conta-lhe tudo.
Texto escrito a partir da recolha de depoimentos de Janeth Tavares, que assina as fotografias
Registo da apresentação informal ao público, no âmbito do Programa de Residências d’O Rumo do Fumo
Fechado na gaveta, encurralado entre “o transtorno e o desconforto” que sempre lhe causou, o passado fez-se finalmente presente na história de Carlota Matos.
Herdeira da ‘marca’ dos “retornados”, a artista portuense cresceu a ouvir a mãe falar sobre a infância em Moçambique, e sobre “o choque cultural que sentiu na vinda para Portugal, aos 12 anos”.
Mais do que a “nostalgia”, Carlota sempre identificou os silêncios que se colavam a essas memórias. “Eu sabia que ainda existia muito por contar”. Mas, como ultrapassar “o transtorno e o desconforto” que o tema sempre lhe causou, e procurar saber mais?
“Sabia também que, ao criar um projecto sobre isto, queria fazê-lo com um artista moçambicano e incluir a sua perspetiva”.
O momento surgiu há cerca de um ano, no Reino Unido, destino de migração e expansão profissional. “Conheci o MoYah em Bristol. Depois de uma conversa inicial, apercebemo-nos de que temos muitos pontos em comum no nosso trabalho e na relação com a arte: ambos trabalhamos bastante em projectos sociais, e temos interesse em abordar questões de família, identidade e descolonização”.
Dessa aproximação de experiências, olhares e leituras históricas, nasceu a vontade de construir uma colaboração, para já concretizada no projecto “Um Passado Presente”.
“Termos sido seleccionados para o Programa de Residências d’O Rumo do Fumo deu-nos a oportunidade de iniciarmos este processo juntos”, nota Carlota, que abriu a criação a um terceiro elemento: a própria mãe.
“Projecto de performance… o que é isso, como se faz, filhota?”, era esta a minha dúvida inicial”, introduz Fátima Matos, destacando o repertório de aprendizagens.
“A história, com entrevistas de outros retornados, e ainda as pesquisas, os livros com interesse nestes temas, incluindo romances de autores moçambicanos; bibliografia em documentários, filmes, reportagens, textos, arquivos históricos; as videochamadas com a minha filha, foi tudo muito importante para o desenrolar do processo e continuidade desejados”.
Nascida em Moçambique, Fátima recorda como a mudança para Portugal, aos 13 anos, foi marcada por “dificuldades na integração”, revisitadas agora n’ “Um Passado Presente”.
Além das próprias lembranças, que passam pela “bondade, generosidade e educação” transmitidas pela mãe, a hoje reformada de uma carreira na banca, destaca a importância de ter conhecido a história do artista moçambicano MoYah, que apresenta como “protagonista e cúmplice” de uma “grande aventura”.
Filho de um Moçambique já liberto do jugo colonial português, demarcador de fronteiras na vida de Fátima Matos, MoYah reside actualmente em Inglaterra, depois de na juventude se ter fixado em Lisboa. A mudança chegou com o estatuto de refugiado político, vivência que o criativo procura visibilizar a partir da arte, que desenvolve como “uma óptima ferramenta para aproximar as pessoas e nutrir a empatia”, a seu ver “uma das bases para uma sociedade frutífera.”
Histórias por contar, aprendizagens por fazer
Inteiramente dedicado à carreira artística, o moçambicano encontrou na música, e em particular no Rap, uma via “poderosa de autoconhecimento e expressão social”, através da qual alerta para várias injustiças sociais.
“Os temas da migração, da identidade, do lar e da diáspora africana são realmente interessantes para mim, pois fui forçado a fugir do meu país natal, Moçambique, ainda criança, durante a guerra civil”, conta MoYah, defendendo que precisamos saber mais sobre esse capítulo da nossa História.
“Não creio que exista arte contemporânea suficiente que explore e reflita a experiência dos moçambicanos que migraram para Portugal naquela época e as complexidades que rodearam a sua migração”.
Disposto a contribuir para um maior conhecimento, MoYah partilha que, “como artista full-timer” – agora também voltado para a prática teatral – encontra constantemente novas maneiras de se conectar com as pessoas “e fornecer diferentes perspectivas para experiências humanas que nem sempre são representadas, especialmente a experiência vivida por refugiados”.
Assumido apologista da “representatividade artística de pessoas do Sul Global”, o moçambicano considera que “Um Passado Presente” oferece “uma boa oportunidade para retratar e transmitir histórias que não são frequentemente ouvidas nos espaços convencionais”.
Aliás, muitas dessas vivências nem sequer foram contadas, porque ainda precisam de ser reconhecidas. E também aí, a arte pode facilitar despertares de consciência, como aconteceu com Fátima, durante os ensaios no estúdio.
“Fez-me enfrentar as dificuldades, praticar a auto-reflexão, aceitar as emoções difíceis, descobrir e partilhar curiosidades sobre mim mesma, fortalecer momentos sensíveis com sinais de humanidade”.
Já a filha Carlota sublinha o efeito desbloqueador do que estava por contar. “Comecei também a ter com a minha mãe as conversas que nunca tivemos, usando o livro ‘Caderno de Memórias Coloniais’ de Isabela Figueiredo como ponto de partida”.
Além do impacto particular do projecto, a autora de “Um Presente Passado” reflecte sobre o seu efeito estrutural.
“Dialoguei com o MoYah e outras pessoas moçambicanas, e passei muito tempo a refletir sobre o meu lugar de fala e de privilégio, o porquê deste projeto e o meu papel nele. Percebi também que ao procurar entender a história da minha mãe, da minha família e do meu país, estou a procurar entender-me a mim mesma”.
Sustentar o futuro com honestidade
O processo de criação artística teve como foco de partida a pesquisa, na primeira de quatro semanas de residência centrada no contexto político que se vivia em Moçambique nos anos 70 e 80, atravessando a luta e a conquista da Independência, as movimentações dos “Retornados” e a Guerra Civil, encerrada em 1992, após 16 anos de confrontos.
“Pretendemos com Um Passado Presente investigar como tornar possível o diálogo entre diferentes gerações, aumentar a compreensão e escuta entre pessoas que cresceram em mundos tão diferentes”.
A proposta conta já com uma apresentação informal, realizada no final do Verão passado, em Lisboa, no âmbito da residência artística d´O Rumo do Fumo, que beneficiou de um workshop de escrita criativa de Sukina Noor, e dos registos fotográficos de Janeth Tavares.
“Foi basicamente um ensaio aberto com público. Foi muito bom, abordámos vários temas – alguns difíceis –, recebemos a opinião e a partilha de todos os presentes, e tudo foi evoluindo com naturalidade”, recorda Fátima, surpresa com a “recepção tão entusiasta do público”.
O bom acolhimento da plateia, onde outros herdeiros de “retornados” também quebraram silêncios pesados, é igualmente destacado por Carlota.
“A oportunidade de abrir as portas do nosso estúdio foi fundamental. As intervenções positivas dos presentes reforçaram para nós a importância deste projecto, e o feedback que recebemos vai enriquecer o nosso trabalho e ajudar-nos a pensar e planear o futuro”.
O caminho deverá incluir novos voos, antecipa a autora d’ “Um Passado Presente”. “Estamos no início desta viagem, à procura de mais residências artísticas que nos permitam continuar a criar e a explorar o cariz multidisciplinar do projecto”.
Já com algumas das próximas paragens identificadas, Carlota Matos mantém o propósito de tirar da gaveta o tema dos “retornados”.
“A presença de famílias portuguesas brancas em países colonizados e todo o contexto político que a engloba foram, para e por muitos, enterrados”.
Mas a caminho do 50.º aniversário das Independências de quatro dos cinco países ocupados por Portugal (excepção feita para a Guiné-Bissau), a artista quer desenterrar o que precisamos de ver e reconhecer.
“Um Passado Presente procura criar um espaço de diálogo, reflectindo sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje. É um projecto sobre encontros e desencontros entre diferentes perspectivas e gerações, que abre um espaço onde estas complexidades possam ser discutidas de forma honesta”.
A proposta torna-se ainda mais relevante, “num contexto em que ainda há muito branqueamento da História”, conforme reconhece a sua autora.
“Este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. Livre da podridão do edifício colonial.
Carlota Matos, com o livro que ajudou a “desbloquear” conversas com a mãe, Fátima Matos
Residência CPLP mais perto de avançar, com africanos a ficar para trás
A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia de Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.
A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.
por Rita Cássia Silva
Carta às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal: não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP
Na Revista Portugal Colonial, de propaganda da expansão colonial em África, publicada em Março de 1931 e que era distribuída para “Agentes em todas as cidades Ultramarinas, Madeira, Açôres, Brasil, etc.”, lê-se na página 5, as vis considerações de um certo Sr. colonialista Dr. Agostinho de Campos:
“Porque é que se coloniza? Para que se teem colónias? Que sentido se contém hoje em dia na expressão “Império Colonial”? Nos séculos XV e XVI Portugueses e Espanhóis navegaram, descobriram, conquistaram mundos novos, e começaram os trabalhos da moderna colonização. A crença e o entusiasmo religioso, a ambição de glória, o espírito cavalheiresco, a ânsia de lucro, o orgulho da nação ou de raça, a energia física e moral exuberante, o génio aventureiro, o instinto das necessidades políticas, as fatalidades geográficas, a lei do menor esforço (verdadeiro ou ilusório), a velocidade adquirida em séculos de guerras contra vizinhos, pobreza e imaginação que via luzir ao longe o oiro apetecido – de todos estes impulsos sociais e naturais, alguns contraditórios, se formou uma corrente de forças, superior à vontade e ao raciocínio humano, que nos fêz – a nós e a outros depois de nós – dilatar a Fé e o Império. Na sua essência a iniciativa e persistência colonizadora resume-se em três palavras: exuberar, possuir, dominar. Dar emprego a energias transbordantes. Ter o que julgamos faltar-nos. E ser senhores –; quanta vez para não sermos escravos!”
Tendo sido um homem fascista, pertencente ao movimento colonialista português tardio, o seu desejo de que os homens portugueses não fossem “escravos” toldou-lhe o espírito. De modo que, não havia dentro de si, uma consciencialização sobre a barbárie. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas africanas foram arrancadas dos territórios africanos e torturadas vivas psicologicamente, fisicamente e patrimonialmente, entre os séculos XVI - XIX, tendo sido Portugal o precursor do tráfico transatlântico, responsável direto pelo tráfico de mais de 5,8 milhões de pessoas africanas.
Tara Roberts, afro-americana, mergulhadora e contadora de histórias, nos relata as suas vivências e experiências em viagens por diferentes territórios em busca de uma compreensão histórica e resignificação dos traumas provocados pelo tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas. Na reportagem “Uma Mergulhadora procura as histórias daqueles que se perderam nos navios negreiros e encontra o lado humano de uma época trágica”, que foi publicada na Revista National Geographic Portugal e atualizada em 24 de Outubro de 2022, Roberts partilha connosco:
“Também ouço histórias do naufrágio do São José Paquete de África. O navio português viajou de Lisboa para a ilha de Moçambique em 1794. Os esclavagistas colocaram mais de quinhentas pessoas, muitas das quais pertencentes à etnia macua, no porão de carga do navio. Dirigindo-se ao Brasil, o navio teve um encontro fatal com o destino às primeiras horas da manhã de 27 de Dezembro, nas rochas ao largo da Cidade do Cabo, na África do Sul. Duzentos e doze dos prisioneiros africanos a bordo morreram e os sobreviventes foram vendidos como escravos.”
Histórias sobre o tráfico transatlântico de pessoas africanas que foram escravizadas pelos europeus e sobre o colonialismo tardio português, não têm vindo a ser rigorosamente explanadas nas escolas no Brasil e muito menos em Portugal, contribuindo assim para que atualmente estejamos a lidar com ataques à frágil vigência democrática onde as pessoas africanas e os seus descendentes estão continuamente a ser invisibilizadas e prejudicadas individualmente e coletivamente.
Pois bem. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP, celebrado a 9 de Dezembro de 2021, em comemoração aos 25 anos da CPLP, um diploma que foi votado por todos os partidos políticos do parlamento português, com exceção do partido de extrema-direita, em Novembro de 2021, teve nos países africanos como Cabo Verde e Angola, papéis determinantes e do meu ponto de vista, contemplou um princípio de responsabilização histórica, quiçá reparação colonial. Segundo os dados do relatório de 2023 da AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo, 40.266 pessoas oriundas dos territórios africanos que integram a CPLP, 108.232 pessoas oriundas do Brasil e 676 pessoas oriundas de Timor-Leste tiveram concessões de visto de autorização de residência dentro do Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP. O acordo esteve estremecido durante o ano passado, devido às demandas europeias relacionadas com o espaço Schengen. Qual não foi a minha surpresa ontem, quando fiquei a compreender que o parlamento português, nomeadamente, os partidos políticos de direita PSD e CDS-PP votaram a favor da concessão de autorizações de residência mediante o acordo de mobilidade CPLP, cujo texto possui discriminações entre países que integram a CPLP! Somente o PCP e o PAN votaram contra! Os países africanos ficaram para trás. Pessoas do Brasil e de Timor-Leste vão poder entrar em Portugal sem visto e pedirão o visto em território português. Todas as pessoas dos 6 países que estão localizados no continente africano, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial somente poderão entrar em Portugal com visto! Todas as pessoas devem ser respeitadas no seio da CPLP, independente da origem étnico-racial, da nacionalidade, do género, da classe social.
Parece-me ser fundamental solicitar-vos uma observação cuidadosa ao quotidiano português e ao mundo em que estamos a viver e que possam se solidarizar com os povos africanos e seus descendentes. A presença africana em Portugal é secular. Penso que seja um dever das pessoas brasileiras conscientes sobre as origens históricas da formação do povo brasileiro, contribuir para que não haja divisão entre povos na CPLP e sim dignificação histórica, verdadeiro entrelaçamento cultural, reparação colonial. O que significa evidentemente que devemos caminhar em conjunto para a salvaguarda da vigência democrática em Portugal. A corroboração com narrativas de que existem pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP, além de ser um caminho muito perigoso, potencializando o avanço da extrema-direita portuguesa, também potencializa a violação do Princípio da Igualdade, artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa: 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Espero sinceramente que este diploma embora tenha já sido votado na AR - Assembleia da República Portuguesa, que possa ser devidamente retificado, antes de ser legitimado pelo Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sem África, não haveria Brasil e muito menos, o Portugal que conhecemos hoje.
Moçambique: Luís Honwana alerta para o perigo imperial que pode dividir o país
O livro “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” inscreveu a escrita de Luís Bernardo Honwana nos anais das literaturas africanas. Leitura obrigatória nas escolas de Moçambique e, até 2026, também no Brasil – para os estudantes que concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo – a obra popularizou-se em todo o mundo como denúncia das atrocidades do regime colonial português. Publicada em vários países e idiomas, “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” já inspirou ensaios, teses académicas, e debates em conferências, alcançando um amplo reconhecimento, do qual ao autor se foi afastando.
O livro “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” inscreveu a escrita de Luís Bernardo Honwana nos anais das literaturas africanas. Leitura obrigatória nas escolas de Moçambique e, até 2026, também no Brasil – para os estudantes que concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo – a obra popularizou-se em todo o mundo como denúncia das atrocidades do regime colonial português. Publicada em vários países e idiomas, “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” já inspirou ensaios, teses académicas, e debates em conferências, alcançando um amplo reconhecimento, do qual o autor se foi afastando. “O meu percurso não está pendurado no livro, talvez até tenha tido uma reacção de quase de me distanciar dele”, aponta Honwana ao Afrolink, desfiando “outras machambas” que o têm “entretido”, longe do campo literário. A ligação à Organização das Nações Unidas, por exemplo, permitiu-lhe ver como os interesses imperiais dividiram o Sudão, e continuam a orquestrar instabilidades para extrair as riquezas de África. Por isso, acompanha com especial apreensão as movimentações em Cabo Delgado, e as fracturas sociais expostas pelos protestos pós-eleitorais”. No horizonte, traçado numa conversa em Lisboa, no final de Outubro, Honwana destaca o dever de Moçambique assegurar “que os jovens vão ter o seu país, que vão ter a sua pátria”. Esta garantia, sugere, pode estar na criação de um Governo de unidade nacional: “Vamos tentar lançar esta fórmula do Mandela”.
Edição mais recente do clássico da literatura moçambicana publicada no Brasil, onde, até 2026, é leitura obrigatória nas provas de acesso à Universidade de São Paulo
Uma nota intriga a leitura da biografia de Luís Bernardo Honwana. Aclamado logo à primeira obra, subversivamente publicada entre práticas de resistência ao colonialismo, o autor de “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” não mais voltou a sujeitar a assinatura ao crivo literário da ficção.
“Esse livro fez e parece-me que continua fazendo o seu percurso. Eu faço o meu”, contemporiza Honwana, sem ceder à sedução da notoriedade granjeada pela escrita.
“Posso conceder que as histórias [presentes nessa obra] têm algum mérito, mas as circunstâncias em que elas foram produzidas, e o quadro histórico que se vivia ajudaram. Tudo isso faz o sucesso”, considera o escritor, acrescentando outra variável à equação: o acaso. “Acredito que haverá por aí muitas obras-primas em gavetas, que não tiveram a mínima chance, enquanto outras, por uma questão de sorte, apareceram no momento apropriado”.
“Nós Matámos o Cão-Tinhoso” surgiu em 1964, altura em que Portugal trucidava Moçambique com o seu regime colonial, e ano em que Luís Bernardo Honwana completou 22 anos.
Seis décadas depois, o livro continua a suscitar renovado interesse, visível nas reedições que se produzem um pouco por todo o mundo, e que, este ano, com a chancela da Maldoror, resgataram para as livrarias portuguesas uma presença há muito esgotada.
Já no Brasil – à semelhança do que acontece nas escolas de Moçambique –, a obra, que reúne sete contos, tornou-se leitura obrigatória para os estudantes que, até 2026, concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo.
Mais do que ferramenta de estudo, o livro de Honwana, publicado em vários países e idiomas, é objecto de investigação, inspirando ensaios, teses académicas, e debates em conferência.
As lições do Sudão
Apesar do amplo reconhecimento, e acesso a diferentes públicos e mercados – que fariam imaginar uma trajectória na ficção literária –, o autor escolheu viver outra história.
“O meu percurso não está pendurado no livro, talvez até tenha tido uma reacção de quase de me distanciar dele”, aponta Honwana, desfiando “outras machambas” que o têm “entretido”.
A ligação à Organização das Nações Unidas, por exemplo, permitiu-lhe observar como os interesses imperiais dividiram o Sudão, e continuam a orquestrar instabilidades para extrair as riquezas de África.
“Foi fundamental para mim aquilo que vi. Perceber de que maneira é que essas coisas funcionam, como o petróleo não poderia ficar em mãos que não fossem as imperiais. Então decidiram que era preciso dividir o Sudão, e começaram: ‘porque nós os africanos não nos entendemos, temos o Norte Islamizado, e o Sul Animista; porque, historicamente, os do Sudão do Norte vinham ao Sul capturar escravos, e mais não sei o quê’”.
O fio condutor das narrativas, lamenta o moçambicano, produz invariavelmente o mesmo desfecho. “Pegam nas nossas querelas e incendeiam quando lhes interessa. E agora já está, é definitivo: temos um novo país que se chama Sudão do Sul, com petróleo que nunca mais acaba”.
A experiência sudanesa, vivida durante cerca de dois intensos anos ao serviço da ONU, aconselha redobrados cuidados em Moçambique. “A gente arrisca-se a ter um país dividido. Mas dividido a sério, com fronteiras, porque o tal imperialismo não é só uma coisa de que a gente ouve falar. Ele existe, mexe-se, e tem os seus interesses no país”, avisa, trazendo para a conversa não apenas os protestos pós-eleitorais, mas também a situação em Cabo Delgado.
“Há Islamismo em toda a África, então, porque é que foi aí, no Norte de Moçambique, que deu nessas insurgências? Os Al-Shabaab [somalis], são pagos por alguém”, sublinha Honwana, alertando para a disputa das reservas de gás.
“Há interessados nessas riquezas. As bolsas do gás são o Norte de Moçambique, o Sul da Tanzânia, quer dizer, o próprio Oceano Índico. Há uma zona que já está demarcada, e é essa que está afectada por estes fenómenos?”, questiona Honwana, lembrando que a força imperial nunca recuou no terreno. “Estão lá presentes os americanos, os franceses…e o que isso pode dar? Ah, que os moçambicanos não se entendem, que os conflitos pós-eleitorais não sei o quê, e, de repente, há um senhor que diz assim: ‘Vou lançar uma guerrilha, e, pronto, isso divide o país ao meio’”.
O cenário, insiste o autor de “Nós Matámos o Cão-Tinhoso”, pode soar, aos ouvidos dos mais incautos, como exagerado ou catastrofista, mas convém conhecer – e reconhecer – as nossas heranças: “Quando fizeram Biafra, havia alguma razão?”.
Cobiças externas, convulsões internas
Sempre atento às tramas internacionais, o antigo Ministro da Cultura Moçambique prossegue na análise político, género no qual, ao longo dos anos, foi calibrando a sua escrita e pensamento, compilados, em 2017, na obra “A Velha Casa de Madeira e Zinco”.
“Porque é que estão a ‘expulsar’ a Rússia, que é o país detentor da energia para o mercado da Europa? Porque estão a confiar em fontes alternativas. Os EUA têm a fonte alternativa que é o fracking, mas na realidade não querem fazer o fracking. Vão, isso sim, buscar essas ‘coisas’ que já reservaram em diferentes partes do mundo, incluindo Moçambique. E esse plano, se não tivermos juízo, vai passar pela divisão do país”.
Recuando algumas décadas na História, Honwana, que foi director de gabinete do Presidente Samora Machel logo após a Independência, em 1975, recorda que o poder imperial nunca poupou Moçambique a ataques – incluindo bombardeamentos sob a cumplicidade da NATO – para impedir que se tornasse um “mau exemplo”. Ou seja, um país livre do jugo colonial e bem-sucedido.
Mas, mais do que sinalizar as armadilhas externas, em que “os sul-africanos foram um instrumento de destruição”, o autor debruça-se sobre as derivas internas: “Não temos uma elite capaz, porque essa mesma elite está sendo corrompida com dinheiros. Eles estão comprados, eles estão a destruir a possibilidade” de um futuro.
Sem perder de vista as movimentações nas ruas, que, no final de Outubro, quando conversámos, ainda estavam nos primeiros dias, Honwana deixa outros avisos: “O Venâncio Mondlane, com todas as bonitas ideias que tem, é pago pelas igrejas fundamentalistas. Não é por acaso que ele saudou o Bolsonaro. Não é por acaso que quando ele veio aqui [Portugal], esteve com o Chega”.
A leitura crítica, ressalva o escritor, não anula o facto de estarmos perante “uma pessoa interessante”, antes pretende dirigir o foco para o país “olhar o futuro”.
No horizonte, Luís Bernardo Honwana destaca o dever de Moçambique assegurar “que os jovens vão ter o seu país, que vão ter a sua pátria”. Esta garantia, sugere, pode estar na criação de um Governo de unidade nacional: “Vamos tentar lançar esta fórmula do Mandela”.
Seja como for, “temos de andar depressa”, aponta o moçambicano. “Isto precisa de uma nova revolução, porque a da minha geração falhou, mas aquele projecto que tínhamos não foi totalmente abandonado, porque continuamos a querer um país independente, que é viável, que tem recursos naturais e humanos”.
Guiado por essa aspiração maior, Honwana e muitos outros nacionalistas moçambicanos embrenharam-se na luta de libertação, para muitos paga com a própria vida, e, no seu caso, saldada em quase quatro anos de prisão.
“Estava, entretido a mudar o mundo com os meus colegas”, conta, de volta aos tempos em que publicou “Nós Matámos o Cão-Tinhoso”.
Sem memórias, mas com muita memória
Dos revolucionários 22 anos de antes, para o amadurecimento dos 82 de agora, o autor reitera que “essa coisa do livro era um show à parte, mas não era o show principal”. Recentrando a conversa no compromisso político e nos valores que importa resgatar, o escritor defende que é fundamental que nos reconduzamos à nossa dimensão de humildade. “Só um fulano humilde aprende, porque assume que não sabe, que tem que aprender. Nós não, a gente acha que sabe tudo. Até fizemos a revolução!”, critica, renovando o apelo à unidade nacional. “Hoje assistimos a uma sucessão de monólogos, mas não há diálogo”.
Para quebrar esse ciclo de destruição, o moçambicano propõe que “os corrompidos encostem à boxe”, para vermos “o que se pode fazer, e como é possível mobilizar todas as capacidades disponíveis para reajustarmos, sem a intervenção do imperial”.
À medida que revê velhos capítulos e antevê novas páginas para a História de Moçambique, Luís Bernardo Honwana parece escrever as próprias memórias. Mas, garante, elas vão permanecer à margem de incursões literárias.
“Tenho a sorte de estar rodeado de pessoas que vão fazendo as suas memórias, e como essas memórias me envolvem de alguma maneira, não preciso de me preocupar com isso. Acho que estou dispensado dessa tarefa”.
Cumpre-nos a nós continuar a escrever – e a viver – as páginas da nossa Independência.
Luís Bernardo Honwana
França e Portugal têm “o gosto por África”, por isso devem “inventar” plano para ‘salvá-la’
Chegaram. Invadiram. Saquearam. Mataram. Criaram e engordaram fortunas. Desenvolveram cidades, países e continentes. Forjaram classificações humanas e princípios de universalidade epistémica. Com eles decretaram a sua superioridade moral e intelectual. Mas querem mais, porque nunca estão satisfeitos. Vai daí distribuem instabilidade política – leia-se o que nos conta Luís Bernardo Honwana –, fingem solidariedade internacional, vendem estabilidade militar e continuam donos e senhores de toda a prosperidade económica e financeira.
Chegaram. Invadiram. Saquearam. Mataram. Criaram e engordaram fortunas. Desenvolveram cidades, países e continentes. Forjaram classificações humanas e princípios de universalidade epistémica. Com eles decretaram a sua superioridade moral e intelectual. Mas querem mais, porque nunca estão satisfeitos. Vai daí distribuem instabilidade política – leia-se o que nos conta Luís Bernardo Honwana –, fingem solidariedade internacional, vendem estabilidade militar e continuam donos e senhores de toda a prosperidade económica e financeira. Criminosamente engenhosos, criaram a mentira que inventou o racismo – como bem explica o jornalista e documentarista americano John Biewen nesta TED Talk –, e com ela se vão reinventando e perpetuando no poder. Homens, brancos, privilegiados, tão imbuídos de ‘boa vontade’, e de preocupação com os africanos – negócios africanos, entenda-se –, que não conseguem travar os instintos de ocupação. Jean-Pierre Raffarin faz parte do clube dos ‘declaradamente superiores’, e isso tresanda na entrevista que deu ao Expresso, em que revela os seus planos para salvar África…numa congeminação que estende a Portugal. E, quem mais?
A entrevista já tem um mês, mas continua colonialmente actual. Nela, lemos o ex-primeiro-ministro da França, Jean-Pierre Raffarin, expressar ao melhor estilo de velhos mapas de cor rosa que tem um plano para salvar África de si própria…e do terrorismo.
Cheio do espírito invasor que sedimentou impérios, Raffarin explicou ao Expresso “que é preciso inventar uma cooperação internacional com o continente” africano. “Precisamos de acção multilateral”, disse, à margem da participação na conferência “Que cooperações possíveis entre França e Portugal em África?”, na Nova School of Business & Economics (Nova SBE), em Carcavelos.
Sem maiores cuidados em esconder tiques de outros tempos – afinal, está entre cúmplices de crimes históricos – o antigo chefe do Executivo francês revela, contudo, preocupação em travar leituras que o denunciem.
“Qualquer país que crie um fundo para África é visto como neocolonialista. Só uma estrutura multilateral, que inclua asiáticos, europeus e americanos, será capaz de fornecer aos africanos os meios para o seu desenvolvimento sem dar a impressão de que tudo isto está a ser feito por uma vontade política interessada”.
Agora como antes, a agenda é forjar boas intenções para defender o indefensável: “Se não desenvolvermos África para os africanos, vão aderir a todas as formas de terrorismo”, antecipa um ‘inquieto’ Raffarin. “Hoje o que é perturbador é que seja o terrorismo a criar os empregos de amanhã em África”, prossegue na sua narrativa, em que não refreia os ímpetos coloniais.
“Temos de pensar primeiro no continente. E este pensamento continental significa pensar no século XXII, com milhares de milhões de jovens a chegar, e como vamos gerir esses milhares de milhões de jovens”, aponta, no que parece ser uma referência ao “êxodo silencioso” em curso na França.
O fenómeno foi-nos apresentado no programa “Africa Eye”, da BBC, e surge como resposta ao aumento do racismo em solo gaulês, indissociável da ascensão e normalização da extrema-direita.
Entre o “bem de” e o “gosto por” África
É revelador que, para Raffarin, hoje presidente da Fondation Prospective & Innovation, a saída da juventude negra francesa para África tenha como resultado o seu alistamento no grande ‘consórcio’ terrorista.
Do mesmo modo, comove-me a sua preocupação de “como vamos gerir esses milhares de milhões de jovens”. Vamos? Quem?
O grande pensador tem todas as respostas, insistindo na ideia de um concerto de nações para o conserto de África. “Temos de inventar uma acção multilateral e, para isso, a reflexão franco-portuguesa é essencial. Se os franceses e os portugueses não forem capazes de o fazer, isso quer dizer que esta é uma tarefa impossível”.
A monstruosa sobranceria e desfaçatez é explicada pelo “gosto por África”, que, aparentemente, não é fácil de encontrar por aí.
“Alguns países estão interessados no bem de África, mas não no gosto por África. Nós, portugueses e franceses, temos isso em comum, o gosto por África. Os que trabalharam em África, os que têm raízes africanas amam e interessam-se por África, não apenas por um destino comum. Gostamos das paisagens africanas, das culturas africanas, da luz africana, dos pores do sol africanos. Há muitas coisas que os portugueses e os franceses podem dizer sobre África que outros povos nunca dirão”.
Haja Amor!
Mas o que não pode mesmo faltar é riqueza! “Há 5.000 empresas francesas a ganhar dinheiro em África”, indica, a determinada altura da entrevista, o antigo primeiro-ministro francês, para quem a experiência acumulada no regime colonial “continua a ser muito importante”.
Quem discorda estará, provavelmente, a instrumentalizar a História com intenções políticas. “Estamos convencidos de que as acções passadas de França e Portugal em África foram bem-intencionadas”, ainda que tenham ocorrido “muitos desvios e dificuldades”.
Apesar de declarar que os europeus não devem “tentar dar lições”, nem “tentar impor valores”, aos africanos, Raffarin é um poço sem fundo de recomendações. Segue mais uma para lidarmos com a ferida colonial.
“As gerações que vão governar estão inocentes desse passado, nada têm que ver com ele. E é muito importante que as novas gerações se declarem inocentes do colonialismo”.
A ‘fundamental’ absolvição histórica – em vez da justa e responsabilizante reparação – emerge, no maravilhoso mundo de ficções coloniais, como um pacto de felicidade. Porque, explica Raffarin, “não podemos pensar que a Europa será feliz se África continuar infeliz”.
Ninguém diria, a avaliar pela forma como destratam africanos e afrodescendentes dentro e fora das suas fronteiras, e como não se cansam de espalhar instabilidade para negociar estabilidade.
Mas, sabemos, o que importa é manter as aparências da Europa civilizadora, em que uns são ameaçadoramente negros e devem ficar de fora – mesmo que supliquem até à morte por uma entrada –, enquanto outros são “lourinhos e de olhos azuis” e, de tão “parecidos connosco”, têm carta branca para entrar, assentar e prosperar.
“Vulva Negra” - a militância discursiva de Yasmin que exorciza o espírito obsessor da branquitude
Com apenas 18 anos, Yasmin Morais criou, em Salvador, na Bahia, o projecto “Vulva Negra” para difundir “o trabalho intelectual que mulheres negras têm construído no Brasil e na América do Sul”. Aos 24 anos, e de passagem por Portugal – um dos destinos de internacionalização da iniciativa – activista falou com o Afrolink sobre esta proposta, que descreve como “feminista material e radical”.
Com apenas 18 anos, Yasmin Morais criou, em Salvador, na Bahia, o projecto “Vulva Negra” para difundir “o trabalho intelectual que mulheres negras têm construído no Brasil e na América do Sul”. Aos 24 anos, e de passagem por Portugal – um dos destinos de internacionalização da iniciativa – a activista falou com o Afrolink sobre esta proposta, que descreve como “feminista material e radical”. A conversa passou também pelo “ranço colonial” que ainda reveste de “grande animosidade” as relações entre portugueses e brasileiros, sem esquecer as ameaças à nossa humanidade, decorrentes da ascensão de forças políticas anti-democráticas. “A extrema-direita está muito bem organizada, não apenas no continente europeu, como também ali na América do Norte e infelizmente também na América do Sul. Eles já perceberam que a grande luta desse século é a luta por significado”, nota a baiana, reflectindo sobre a demonização das identidades. “Algumas pessoas dizem que as pautas negras são identitárias, ou que as pautas das mulheres são identitárias, quando são extremamente materiais”, assinala, sublinhando: “Nós estamos falando das nossas vidas e das nossas possibilidades de existência”. Quem se recusa a escutar?
Yasmin Morais, fundadora do “Vulva Negra”, aqui fotografada por Catherine Sant’ Ana e, na foto de capa, por Ivny Coura
Os olhares atravessaram-lhe o caminho para não ser quem é. “Eu me sentia vista como algo diferente de humana”. Ainda criança, Yasmin Morais confrontou-se com a impossibilidade até mesmo de estar. “No recreio, momento de confraternização entre as crianças, eu brincava sozinha, porque elas fingiam que que eu não estava ali”.
Única negra da sala, a baiana começou, logo aí, a destituir-se de si própria.
“Essas violências contribuem para um auto-ódio muito grande em mulheres negras. Lembro que a primeira vez que os meus cabelos foram alisados eu tinha 7 ou 8 anos”, conta a hoje escritora, palestrante e comunicóloga, sublinhando a importância dos questionamentos.
“Fui percebendo desde cedo como a desigualdade ia moldando minhas possibilidades, minhas oportunidades, e a maneira como as pessoas me viam. Então, me perguntava: por que as pessoas me olham de uma maneira que elas não olham para as minhas outras colegas, garotas brancas e loiras? Por que isso acontece? O que significa isso? Por que as coisas são como são? Buscar respostas, acabou sendo um caminho natural para mim”.
Natural do estado da Bahia, onde nasceu há 24 anos, Yasmin explica como a vida lhe demonstrou que “a cidade mais negra fora do continente africano também é um tanto hostil com a comunidade negra”.
Além das desigualdades no acesso à educação, a activista aponta para as diferenças no acesso à habitação. “Estudei em uma escola particular, porque a minha mãe era professora lá, mas a maior parte das pessoas negras se concentram nas instituições de ensino público”, nota, sublinhando o quanto a estratificação social se evidencia no quotidiano – “As pessoas brancas vivem nos melhores bairros”.
Mais do que observar e questionar, Yasmin decidiu actuar.
“Comecei a procurar leituras que me trouxessem respostas. Então, acabei esbarrando com autoras maravilhosas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil”.
Os encontros literários, com figuras como Angela Davis e Lélia González, trouxeram-lhe compreensão e construção da sua identidade, negra e feminina.
“As pessoas olham a aquisição de conhecimento como algo bom – e é realmente muito bom –, mas quando nós falamos do conhecimento sobre a questão étnico-racial e feminina, sempre vem de um lugar muito doloroso. Você se interessa por saber porque as coisas são como são, porque elas te atingiram primeiro e isso também tem de ser levado em consideração”.
Para começar, Yasmin pergunta: “Quantas de nós não gostariam de ser mais claras, por exemplo? Ou de se enquadrar na noção de feminilidade eurocêntrica?”.
Quebrar correntes de subalternização
Assumidamente fora dos padrões ocidentais, a baiana defende que “como mulher negra, com um nariz largo e cabelos crespos”, não cabe na construção feminina dita ‘universal’. “Os meus traços estão muito mais associados àquilo que dentro da concepção eurocêntrica seria masculino ou animalizado”.
Hoje consciente dos mecanismos de apagamento e silenciamento, e das tentativas de aniquilação da existência negra, a activista alerta para a importância da resistência e ruptura com dinâmicas de subalternização.
“O ódio que nos dirigem acaba se impregnando na nossa personalidade. Então, o trabalho de conscientização com mulheres negras também é uma espécie de exorcismo do espírito obsessor da branquitude, que tenta incutir nas nossas cabeças que não somos boas o suficiente, quando na verdade somos”.
O auto-conhecimento e reconhecimento, iniciado na infância, amplifica-se, há seis anos, através da plataforma “Vulva Negra”.
“Tinha apenas 18 anos, um celular velho e um sonho. Hoje, já representamos o Brasil em mais de seis países e, no ano retrasado [2022] me tornei a primeira brasileira a palestrar no palco principal da maior conferência feminista actual da Europa – a FiLiA Conference”.
O testemunho está afixado na página do projecto no Instagram, lugar de afirmação e celebração.
“Eu demorei muito para me apropriar de uma percepção positiva sobre mim. Hoje eu considero que eu tenho uma óptima autoestima, mas é uma construção, porque na minha infância, na minha adolescência, eu passei por muitos conflitos internos”.
Desde logo, Yasmin conta como não se identificava com as construções de feminino.
“Eu sei que sou uma mulher, mas levei anos e anos para conseguir dizer que eu sou uma mulher, porque não me sentia dessa forma”, diz, explicando que cresceu com “uma definição completamente limitante” do que representa estar nessa pele.
“Pensando especificamente no contexto brasileiro, e religioso, as pessoas apresentaram para mim que ser mulher é ser submissa, é ser compassiva, é ser compreensiva…É andar dois passos atrás de um homem. Não lado a lado, nem à frente. Dois passos atrás. E eu, como aquela criança, como aquela adolescente, pensava: isso é ser uma mulher? Então, eu anulo essa possibilidade”.
A importância de ler
Já longe dessa invalidação, a escritora conta que o estudo, associado às experiências que foi tendo ao longo da vida, lhe permitiram desmontar essa construção social.
“Percebi que, na verdade, aquilo ali é uma noção completamente arcaica e patriarcal de quais são as possibilidades para uma mulher”.
Aos 24 anos, Yasmin afasta-se de impossibilidades, e propõe, com o seu projecto, “uma perspectiva crítica às noções clássicas”, posicionando-se pelo abolicionismo de género, por acreditar que o mesmo nos é imposto, de forma limitante.
Apesar de reconhecer as condicionantes, a palestrante faz questão de se afirmar mulher, ao mesmo tempo que desafia padrões. “Ser uma mulher que viaja, que é activista, que está no mundo”, e “não ser submissa, não ser feminilizada, não ter o nariz fino…não retira a minha mulheridade”.
Segura na sua pele, a escritora reafirma a importância da literatura no seu processo de humanização, afirmação e exaltação negra.
“Sei que tenho uma história incomum, um pouco fora da curva”, admite, de volta aos tempos de criança.
“A minha mãe é professora, e sempre foi professora. O meu pai, durante a adolescência, início da juventude, era um escritor. Então, a minha família sempre foi circundada pela questão educacional da parte da minha mãe, e pela questão literária da parte do meu pai”.
A conjugação facilitou o acesso a livros, congratula-se a palestrante, reiterando que “apesar de ser uma pessoa negra que veio da classe socioeconómica baixa no Brasil”, desfrutou do “privilégio de ter pais que encorajam a ler”.
A influência permitiu-lhe treinar, precocemente, o músculo da escrita. “Eu me descobri escritora muito cedo. Com 10 anos, eu já escrevia poemas porque eu me sentia mesmo incentivada pela minha família”.
Lembrando que, no Brasil, “a maioria das pessoas lê, no máximo, um livro por ano”, Yasmin questiona o impacto dessa circunstância.
“Não estou aqui dizendo que é impossível construir conhecimento de outras formas. Você pode assistir a documentários, aulas, palestras, mas ler é uma forma de se apropriar do seu próprio senso crítico, da sua própria perspectiva”.
Enraizada no seu lugar de pensamento, a fundadora do “Vulva Negra” reflecte sobre as ameaças da extrema-direitas a múltiplas identidades; sobre “ranço colonial” que tensiona as relações entre brasileiros e portugueses; e sobre a proposta do seu projecto.
Militância discursiva
“O nome “Vulva Negra” surge por dois motivos interessantes: primeiro, porque é um trocadilho com a aranha viúva-negra, que devora o macho depois do acasalamento; segundo, porque essa palavra ainda é um grande tabu, e, por isso, as pessoas utilizam 1001 nomes inventados para não falar vulva”.
Em contracorrente, a escritora avançou para o que chama de “militância discursiva”: “Toda pessoa que tiver que falar do meu trabalho, vai ter que falar a palavra”.
A ‘profecia’ cumpre-se em jornais, revistas e nas televisões, que acompanham as actividades, nacionais e internacionais, em que o projecto criado por Yasmin Morais está envolvido.
É também na arena mediática que se percebe, cada vez mais, a ascendência da extrema-direita, que cresce sob impulso de polarizações identitárias.
“Penso que é interessante que todos nós, a nível individual, defendamos nossas identidades e nossas questões. Mas é importante, sobretudo, que isso também não nos impeça de ter um olhar colectivo”, defende a baiana, alertando para a distorção de termos por forças anti-democráticas: “Apropriam-se e colocam tudo de forma pejorativa”.
Atenta a essa perversão, a comunicóloga nota que “a extrema-direita está muito bem organizada, não apenas no continente europeu, como também ali na América do Norte e, infelizmente na América do Sul”, e já percebeu que “a grande luta desse século é a luta por significado”.
Por isso, diz, “eles estão a todo o momento se apropriando e se reapropriando de conceitos”.
A manobra exige maior e melhor concertação de esforços, aponta Yasmin. “É muito importante nós termos consciência que estamos vivendo um momento social em que aqueles que se posicionam contra nós, contra as minorias, a comunidade negra e as mulheres, sentem muito medo dos nossos movimentos auto-organizados, não apenas por emancipação, mas também pela justiça que todos nós merecemos como cidadãos”.
A palestrante destaca ainda que “quando esses indivíduos nos vêem nos auto-organizando, criando nossos eventos, nossos movimentos, nossas petições, quando nos vêem pensando a nível político, eles gostam de nos taxar como pessoas perigosas, como pessoas radicais, em um sentido ruim”.
Dando como exemplo o Brasil, a escritora nota que “não há uma polémica dentro dos movimentos de esquerda em falar que nós precisamos de um combate radical às estruturas: do próprio capitalismo, da opressão social e económica”.
No entanto, prossegue a fundadora do “Vulga Negra”: “Quando se fala na questão étnico-racial ou na questão de género, as pessoas vêm com um discurso, que é muito mais próximo do ‘não se pode ser radical demais’”. Então, continua Yasmin, “enquanto você acredita que pessoas negras ou que mulheres precisam também vivenciar uma emancipação completa, outras pessoas olham esse discurso como se fosse algo pernicioso para a sociedade, começam a demonizar, quando, na verdade, o feminismo material nada mais é do que a busca pela emancipação das mulheres e das pessoas negras, compreendendo que nós somos oprimidos historicamente, por razões que nos foram impostas a partir da nossa materialidade: ser negro e mulher”.
Sem nunca perder o fio aos questionamentos, a activista baiana dispara: “Se nós não observamos quais são os factores que constituem a nossa realidade, como vamos pensar políticas públicas para mulheres negras? Como vamos pensar políticas públicas para as pessoas em situação de subalternidade?”.
Sublinhando que “essas questões são históricas”, a escritora adianta que “o empobrecimento das mulheres negras no Brasil, por exemplo, vem desde a época da colonização”.
A explicação é simples: “Quando nós pensamos que, após a Abolição da Escravatura no Brasil, pessoas negras não receberam políticas de reparação; quando pensamos que mulheres demoraram muitíssimo para poder ter acesso a condições financeiras e económicas, temos de reconhecer como isso influencia de certa forma a maneira como nós vivemos hoje”.
Limpar o ranço colonial, para Portugal aprender com o Brasil
O impacto do passado no presente não é teórico, avisa a baiana, insistindo na dimensão concreta das opressões.
“Porque quando nós estamos vivendo em países que não são a favor de pessoas negras, de mulheres e de minorias, nós não estamos em uma guerra conceitual, nós estamos em uma guerra por sobrevivência, por existência com dignidade. Então, algumas pessoas dizem que as pautas negras são identitárias, ou que as pautas das mulheres são identitárias, sem compreenderem que essas pautas são extremamente materiais”.
Por entender está igualmente o caminho que brasileiros e portugueses podem construir juntos.
“Eu sinto que há uma grande animosidade, de certa forma, entre portugueses e brasileiros, porque ainda há no Brasil o que nós chamamos de ranço colonial. Ainda há ali uma sensação de superioridade dos portugueses face aos brasileiros por termos sido colonizados”.
Poderá a forte presença da comunidade brasileira em Portugal contribuir para eliminar esse “ranço”?
“Sinto que nós temos muito a ensinar no quesito étnico-racial, porque estamos há muito tempo fazendo isso, lutando por isso no Brasil, e já houve vitórias. Apesar de tudo, temos aí a lei de cotas. Temos aí o Ministério da Igualdade Racial. Temos avançado da maneira que nos é possível”.
Nessa trajectória, Yasmin destaca o protagonismo feminino.
“Lá atrás, houve uma questão muito interessante, das ganhadeiras, mulheres negras que às vezes não eram sequer libertas, e ainda trabalhavam para os seus senhores. Utilizavam a venda de alimentos, e de pequenas coisas como método para financiar a compra da alforria de outros indivíduos negros, de suas famílias e de suas comunidades”.
Séculos depois, a história renova-se com o movimento feminista e anti-racista, nota a escritora. “É muito mais fácil a gente ficar quieta do que falar sobre as coisas como elas são. Mas nós, mulheres negras, saímos desse lugar, e estamos, de certa forma, contribuindo para a compra dessa alforria – que agora é psicológica – das pessoas que fazem parte da nossa comunidade.” Até à libertação final!
Fotografia de Catherine Sant’ Ana, num dos encontros promovidas pelo projecto “Vulva Negra”
Que Moçambique é este? Sem medo da morte, com a revolução dos 20%
Em Maputo, Cídia Chissungo desdobra-se entre colectivos, num esforço de concertação activista que, a cada manifestação, mobiliza canais de denúncia e redes de apoio a vítimas de detenções arbitrárias, e violentas cargas policiais. Em Lisboa, Gilana Sousa, com o projecto Quid Iuris – Associação, e Nelson Melo, em nome individual, são os precursores das primeiras marchas pacíficas contra a violação dos Direitos Humanos em Moçambique, entretanto alargadas a outras cidades portuguesas, com outros dinamizadores. Jovens, moçambicanos, e defensores de uma sociedade democrática e justa, todos vêem nas ruas uma plataforma de pressão política, especialmente activa na sequência das alegações de fraude eleitoral, apresentadas na ressaca da votação de 9 de Outubro, marcada pela forte repressão das autoridades, e pelo assassinato de duas figuras da oposição – Elvino Dias e Paulo Guambe. Presente num dos protestos de Lisboa, o Afrolink recolheu o testemunhos dos manifestantes, e também ouviu a contestação que chega de Maputo.
Em Maputo, Cídia Chissungo desdobra-se entre colectivos, num esforço de concertação activista que, a cada manifestação, mobiliza canais de denúncia e redes de apoio a vítimas de detenções arbitrárias, e violentas cargas policiais. Em Lisboa, Gilana Sousa, com o projecto Quid Iuris – Associação, e Nelson Melo, em nome individual, são os precursores das primeiras marchas pacíficas contra a violação dos Direitos Humanos em Moçambique, entretanto alargadas a outras cidades portuguesas, com outros dinamizadores. Jovens, moçambicanos, e defensores de uma sociedade democrática e justa, todos vêem nas ruas uma plataforma de pressão política, especialmente activa na sequência das alegações de fraude eleitoral, apresentadas na ressaca da votação de 9 de Outubro, marcada pela forte repressão das autoridades, e pelo assassinato de duas figuras da oposição – Elvino Dias e Paulo Guambe. Presente num dos protestos de Lisboa, o Afrolink recolheu os testemunhos dos manifestantes, e também ouviu a contestação que chega de Maputo.
As palavras de ordem, exibidas em cartazes improvisados, dão expressão à crescente revolta popular. “Não à fraude eleitoral”, lemos de um lado da manifestação, enquanto do outro encontramos várias mensagens de oposição ao Governo “assassino” e “mentiroso” de Moçambique.
Em Lisboa, a exemplo do que vem acontecendo noutras cidades da diáspora moçambicana, os protestos contestam os resultados das eleições de 9 de Outubro, e exigem uma viragem na condução dos destinos do país.
“O poder das pessoas é mais forte do que as pessoas no poder”, lembra Susana Cunhete, uma das pessoas que se juntaram à marcha pacífica organizada por Nelson Melo, no passado dia 7 de novembro.
Estudante do terceiro ano do curso superior de Economia, a maputense de 22 anos confia numa mudança política, forçada a partir das ruas. “Um povo unido faz a diferença”, repete, poucos metros depois da saída da Embaixada de Moçambique, ponto de concentração e de partida para a Praça do Comércio.
É aqui que, depois de um percurso em passo acelerado, num ritmo de quem não tem tempo a perder, dezenas de manifestantes exigem Justiça, e reclamam o poder. “Este país é nosso”, grita um dos cartazes que povoam a marcha, lado a lado com outro que reforça o repto popular: “Devolvam a nossa bela pátria”.
O amor a Moçambique proclama-se mais alto, e, entre declarações de rejeição da FRELIMO – o partido que governa o país desde a Independência –, um nome sobressai: Venâncio Mondlane.
“É uma marcha apartidária, mas como pode ouvir, há quem tenha as suas preferências. É normal”, defende Nelson Melo, responsável pelo protesto que antecedeu a denominada quarta fase dos protestos.
Demarcando-se de outras vozes, que expressam total devoção ao candidato presidencial do PODEMOS – força política que contesta os primeiros resultados eleitorais, que lhe dão cerca de 20% dos votos, contra 70% da FRELIMO –, o empresário de 27 anos, há três baseado em Portugal, sublinha que Venâncio é um produto das circunstâncias.
“Nós pegamos em algo que já sentimos há muitos anos. Estamos aqui porque queremos uma mudança, porque percebemos que as coisas não podem continuar do mesmo jeito”, diz o moçambicano, que vê na principal figura da oposição uma peça ao serviço de uma necessária viragem.
“O Venâncio não começou nada, ele aproveitou o momento, e nós aproveitamo-nos dele ainda mais”.
Profundamente activo nas redes sociais – o púlpito de onde mobiliza a população, lançando convocatórias de greve, manifestações e protestos simbólicos –, aquele que muitos nas ruas apelidam de “nosso Presidente”, não se poupa a demonstrações de força e popularidade.
Do panelanço ao luto
A mais recente, que terminou hoje, 22, incluiu o decretar de três dias de luto nacional, “pelos mártires da revolução das panelas”.
A referência fixa atenções num dos marcos da contestação pós-eleitoral: o apelo de Venâncio para que, num contínuo de contestação, os moçambicanos demonstrassem a sua insatisfação com o bater de tachos.
O chamado “panelanço” persiste, e em linha com ele, a presença nas ruas, duramente reprimida pelas autoridades. Além de acusações de detenções arbitrárias e fortes cargas policiais, sucedem-se os relatos de execuções à lei da bala, que números desencontrados situam na casa das dezenas.
“Não é de qualquer maneira que morrem 50 pessoas e a sociedade fica impávida e serena”, assinala Venâncio, numa das inúmeras mensagens que dirige aos seus seguidores, em directo, a partir da sua conta no Facebook.
Em protesto, o candidato do PODEMOS exortou a população a “parar todas as viaturas e buzinar em homenagem aos heróis”, por 15 minutos, das 12h às 12h15.
Sem esquecer “os que não têm viaturas”, Venâncio apontou outra forma de luta: “Levantem cartazes, da reposição da verdade eleitoral, nos semáforos, no meio das ruas, como se fossem sinaleiros”.
Atento a estas e outras manobras políticas, Kevin Ribeiro, de 31 anos, não esconde as reservas em relação ao novo protagonista da oposição em Moçambique.
“Será que é a melhor opção? Eu acho que é a única, porque a gente veio de uma altura em que tínhamos o [Afonso] Dhlakama e o David Simango como referências. Primeiro morre o Dhlakama, depois morre o Simango. Nós ficámos sem um refúgio. Então, quando aparece o Venâncio – porque ele já lutava há muitos anos por isso –, quando ele se impôs, claro que a gente viu ali uma alternativa”, contextualiza Kevin, residente em Maputo e, por estes dias, de visita a Portugal.
O exemplo do Brasil e a de Venâncio
Presente na marcha lisboeta de 7 de Novembro, o moçambicano, que trabalha no sector comercial, afasta da sua leitura as crenças salvacionistas que têm galvanizado o candidato do PODEMOS.
“Não é que o Venâncio seja o nosso Deus, mas ele é a chave para a mudança que nós todos queremos. E é o nosso alicerce, basicamente”.
Sem ilusões de um milagre, Kevin traz para a conversa o exemplo do Brasil.
“Posso estar a ser ingénuo, mas acho que daqui para frente a gente se vai começar a politizar, o moçambicano tem de se começar a politizar, como fez o brasileiro, por exemplo”.
Recuando ao “golpe”, que retirou Dilma Rousseff da Presidência e promoveu a ascensão de Temer, Kevin defende que, a partir dessa consciência, a população começou a “mexer-se mais”.
Confiante nesse processo, em que “todos, desde os mais novos ao mais velhos”, se começam a interessar mais por política, o maputense considera que Venâncio está apenas a funcionar como “a virada de chave” para um movimento de emancipação.
“Não temos de depender dele. A partir de agora, nós todos, os jovens, podemos fazer parte desta história, podemos até criar um partido”.
O impulso de Azagaia
O “abanão” cívico ganha crescente expressão em Moçambique, sublinha a activista Cídia Chissungo, desde o primeiro dia de protesto nas ruas.
“Entender o que está a acontecer hoje sem mencionar o dia 18 de Março de 2023 não faz sentido”, aponta, recuando a uma série de mobilizações na sequência da morte do músico Azagaia, falecido dias antes.
“Eu mesma fiz a lista das acções que deveriam ser realizadas, e a última acção consistia em prestar tributo em público, nas capitais do país, nessa data. Então, juntamente com outros activistas, começamos a nos mobilizar, e nos preparamos para sair à rua, no dia 18 de Março. Acontece que, mesmo tendo submetido todas as cartas a comunicar às autoridades a intenção de realizarmos a homenagem, naquele dia a Polícia atacou de forma brutal os jovens”.
As memórias mancham-se de violência: “A única coisa que os jovens tinham na mão eram cartazes, para se despedirem do seu músico favorito. Mas várias pessoas ficaram feridas e, até hoje, convivemos com dois companheiros que perderam, cada um deles, um olho, por conta daquelas manifestações, porque a Polícia simplesmente começou a disparar gás lacrimogéneo sem nenhuma necessidade. Houve um grande caos, não só em Maputo, mas também em Inhambane, em Nampula, Niassa…e tudo desnecessário”.
Os planos de uma revolução jovem estavam em marcha, reconstitui a activista. “Naquele dia, prometemos que nos iríamos vingar, mas que não iríamos fazer nada até ao dia das autárquicas. Dito e feito, em Outubro de 2023, as pessoas responderam da forma como deveriam responder, e a FRELIMO perdeu, incluindo em Maputo”, diz Cídia, sem ponta de hesitação.
“O Venâncio Mondlane venceu essas eleições. A sociedade civil e vários outros observadores colectaram provas dessa vitória, que a FRELIMO se recusou a aceitar. Então, as pessoas disseram mais uma vez: vamos voltar a cancelar esses dirigentes em Outubro de 2024”.
Cronologia estabelecida, a jovem moçambicana de 28 anos reforça o impacto de Azagaia para a força de sublevação.
“Esta onda toda de ‘precisamos de mudar o país’ começa mesmo em Março de 2023, porque quando Azagaia morre as pessoas começam a escutar as músicas com mais cuidado. A cena do povo tomar o poder, e que não é possível conseguir isso sem consentir sacrifícios, sem fazer greves etc, vai ecoando cada vez mais. Tanto mais que as pessoas que naquele dia 18 de Março tinham a intenção de sair à rua e que não puderam, acabaram formando aquilo que nós chamamos de Geração de 18 de Março”.
Este movimento, explica Cídia, “não tem nenhuma liderança”, mas partilha a vontade de afastar a FRELIMO do poder, “porque não sabe conviver com a liberdade, não consegue nem respeitar as próprias leis que existem no país”.
O peso dos 20%
O mau diagnóstico após quase 50 anos no poder, é reforçado nas palavras de quem ocupa as ruas.
“Todos estamos cansados da injustiça, dos raptos, dos assassínios, e de tudo aquilo que tem havido na fraude eleitoral que nós conseguimos ver”, assinala Nelson Melo, a partir de Lisboa.
Kevin Ribeiro corrobora. “As pessoas saíram de casa para votar, e fizeram filas enormes nas escolas primárias, em que a gente chegava às 10h e ficava até às 14, e 15h, se fosse preciso. Depois no final, tivemos a Comissão Nacional de Eleições a dizer: “Houve algumas anomalias, mas mesmo assim a gente declarou, já o vencedor”. Isso não faz sentido nenhum. A gente quer ver as coisas concretas, a gente quer ver o nosso voto realmente valer. Acho que é principalmente sobre isso. É sobre isso”.
O coro de protestos que se ouve desde a Embaixada de Moçambique em Lisboa, até à Praça do Comércio confirma as alegações de fraude eleitoral.
“O nosso papel, da diáspora, é dizer ao nosso querido Presidente, Filipe Jacinto Nyusi, que esta é a revolução dos 20%, e de que nós estamos aqui para mostrar que nos tem doído e vai continuar a doer até haver uma mudança”. A voz projectada entre aspas é a de Nelson Melo, firme na oposição, e, ao mesmo tempo, consciente das possibilidades de retaliação.
“Infelizmente tenho familiares que já foram raptados, tenho amigos e conhecidos que já foram raptados e assassinados. Então, como estamos sempre numa posição de voltar para Moçambique, podemos acabar numa posição de persona non grata. Sei que o pior pode acontecer, mas nós vamos fazer a nossa parte porque não temos medo, deixámos de ter medo, e vamos continuar a não ter medo”.
A coragem dos que não têm nada a perder ecoa também da voz da advogada Gilana Sousa, que, a 2 de Novembro, organizou, com o projecto Quid Iuris – Associação, a primeira marcha pacífica “contra a violência policial, assassinatos e raptos em Moçambique”, na sequência das convulsões eleitorais.
“Acho que este é um momento em que temos de nos solidarizar. Não é por estarmos em Portugal que as coisas que acontecem em Moçambique já não nos dizem respeito. Nascemos lá, crescemos lá, estamos cá a viver, mas identificamo-nos muito com o nosso país”.
Há uma década em terras lusas, a moçambicana de 26 anos nota que a liberdade de manifestação e expressão contrasta com a pressão familiar.
“Pais e tias ficaram muito preocupados com a minha vida, quando perceberam que estava a organizar uma marcha. Disseram-me: não te metas nisso, não te envolvas”.
O fim do medo
Gilana avançou e, tal todos aqueles que protestam, em Moçambique e na diáspora, não pretende recuar. Isso mesmo demonstram os novos apelos à mobilização: na próxima quinta-feira, 28, a partir das 19h30, decorre a “Vigília dos Mártires Moçambicanos em Lisboa”, em frente à Embaixada.
A proposta, indicam os seus promotores, pretende “honrar e homenagear as corajosas almas que deram as suas vidas” por um país melhor.
“As pessoas estão determinadas a retirar a FRELIMO do poder”, garante Cídia Chissungo, lembrando que a informação que temos hoje favorece a contestação.
“Esta não é só uma batalha de quem está na rua, é uma batalha de narrativas também, porque as pessoas estão mais do que nunca a ter acesso a uma versão dos factos que no passado não existia. Antes dizia-se às pessoas do Sul que quem estava a matar eram as pessoas da zona Centro e da zona Norte. Esses eram os maus. Então as pessoas da zona Sul sempre se viram na posição de terem de se defender, mas hoje essa retórica acabou”.
Para a activista, tornou-se evidente, para “todo o mundo”, que “o verdadeiro bandido da história actual é a FRELIMO”.
A consciência, defende, reforça a oposição. “O que estou a notar é que quanto mais a repressão aumenta, mais a resistência aumenta. As pessoas perderam o medo de morrer”.
Vigília na Praça do Comércio, em Lisboa
Conferência para fazer de Moçambique “um País Seguro para a Cidadania”
Entre greves e manifestações, violentamente reprimidas pelas forças de segurança, “um grupo de moçambicanas e moçambicanos preocupados com o rumo que o País tem tomado”, lançou o manifesto cidadão “Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania”. O Afrolink contactou um dos promotores deste repto, o jurista e académico Tomás Timbane, que, por e-mail, explicou o essencial sobre esta iniciativa.
Entre greves e manifestações, violentamente reprimidas pelas forças de segurança, “um grupo de moçambicanas e moçambicanos preocupados com o rumo que o País tem tomado”, lançou o manifesto cidadão “Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania”. O Afrolink contactou um dos promotores deste repto, o jurista e académico Tomás Timbane, que, por e-mail, explicou o essencial sobre esta iniciativa. Mas, antes de seguirmos para as questões, partilhamos algumas linhas de força desta proposta, que junta “sensibilidades políticas diversas”, unidas “pelo ideal de independência, que se traduz num compromisso forte com a paz, desenvolvimento, justiça social e igualdade de oportunidades”.
A frase “Unidos na diferença, somos Moçambique!” encerra com chave de coesão o vídeo do manifesto cidadão que, na semana passada, começou a circular pelas redes socias, com uma proposta para “Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania”.
A iniciativa junta “um grupo de moçambicanas e moçambicanos preocupados com o rumo que o País tem tomado”, inquietação expressa também em forma de texto, disponível online.
“Se para despertarmos da longa noite colonial tivemos que gritar “Independência ou Morte, Venceremos!”, hoje, para honrarmos essa determinação devemos exaltar a promoção do princípio da cidadania como garante do valor da nossa dignidade como nação soberana e independente”, lê-se nesse documento.
Formado por integrantes com “sensibilidades políticas diversas”, o grupo declara-se unido “pelo ideal de independência que se traduz num compromisso forte com a paz, desenvolvimento, justiça social e igualdade de oportunidades”.
Além de condenarem “o recente bárbaro assassinato de dois políticos da oposição” – referindo-se aos homicídios de Elvino Dias e Paulo Guambe, respectivamente advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e mandatário do PODEMOS –, os cidadãos estendem a condenação à “resposta desproporcional da polícia nacional às manifestações populares, bem como à limitação do direito de comunicação dos cidadãos”.
Ao mesmo tempo, vêem com apreensão “a erosão da confiança nas instituições do Estado e no sistema político”, e notam que Moçambique “ainda tem um longo caminho a percorrer para a realização plena do projecto de independência”.
Segundo se lê no manifesto cidadão, a soberania nacional “está profundamente ameaçada por uma insurgência armada em Cabo Delgado, mas também, em todo o País, pelas precárias condições de vida e pela desigualdade de género”.
O documento elenca uma série de riscos, incluindo “o desemprego juvenil, os índices de criminalidade nos principais centros urbanos, a extrema vulnerabilidade aos desastres naturais”, aspectos “que condicionam o exercício da soberania”.
Neste cenário, o grupo apela a uma profunda e séria reflexão nacional, identificando vários pontos-chave para esta discussão. Nomeadamente: separação de poderes; poderes presidenciais; justiça eleitoral; participação e inclusão política; descentralização e autonomia regional e local; liberdades de expressão e de imprensa; padrões e estruturas de desenvolvimento económico e social; reconciliação nacional; e papel do Estado.
“Sem prejuízo do trabalho das instituições eleitorais de direito, exortamos todos os partidos e actores políticos relevantes a convocarem uma Conferência Nacional que una todas as sensibilidades políticas do nosso tecido social, para juntos discutirmos como ultrapassar esta crise pós-eleitoral no espírito de “Fazer de Moçambique um País seguro para a Cidadania”.
Tomás Timbane
Tomás Timbane, jurista, académico, e um dos promotores deste repto, partilhou connosco mais informações sobre este manifesto.
De quem partiu a iniciativa?
A iniciativa resultou de debates, sobretudo ao longo dos últimos dois anos (2023 e 2024) dentro de diferentes grupos de interesse a que os membros do grupo estivessem individualmente associados, sobre o rumo que o País vinha tomando, sobretudo devido ao agravamento do terrorismo na Província de Cabo Delgado. Alguns dos membros do grupo cruzavam suas ideias em debates através das redes sociais, até que em 2023 surgiu a ideia de reflectirmos juntos, sobre o País. O objectivo principal era lançar um processo de debate nacional o mais alargado possível, sobre como ajudar o país a atravessar o período de crise, a partir de temas específicos associados ao sistema político do país e da governação. O grupo tem mais membros que não aparecem no vídeo. O Professor Elísio Macamo liderou a iniciativa a partir deste momento, e os integrantes do grupo contribuíram com algumas notas conceptuais sobre temas, em torno do sistema de Governo, que seriam relevantes para entender a presente crise de Estado: sistema eleitoral; poderes do Presidente da República; separação dos poderes; direitos, liberdades e cidadania; etc (video –“Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania”.) A ideia final era que, com base nas diferentes contribuições, por sua vez alvos de debates no grupo, fosse produzido um documento de orientação para a promoção desse debate nacional, o mais abrangente possível, sobre como refundar o Estado. O documento ora lançado em público –“Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania” – constitui esse resultado. Assim este documento constitui uma base para um debate nacional mais amplo, do qual se espera a produção de ideias com que a maioria da sociedade se identifique.
O que torna Moçambique um País inseguro para a cidadania?
O processo que culmina com a elaboração do documento “Fazer de Moçambique um País Seguro para a Cidadania” inicia em 2023, portanto bem antes das recentes eleições gerais e da crise que lhes seguira. Há, portanto, outras fontes de insegurança para o exercício da cidadania, devidamente indicadas no documento, tais como a insegurança derivada da insurgência militar em Cabo Delgado; altos índices de pobreza; violência política; desigualdades de género, entre outras.
Qual poderá ser o alcance da Conferência Nacional? Não será “uma vez mais” para as elites?
A conferência nacional pretende ser uma oportunidade para a sociedade moçambicana, representada nas suas diferentes orientações políticas, interesses e sensibilidades, discutir com franqueza sobre os graves problemas que enfrenta o Estado e as suas instituições e, porventura, lograr formular um roteiro rumo a um novo Pacto Social.
Como unir Moçambique nas desigualdades?
O povo moçambicano é plural, nas suas opções políticas e ou partidárias; no seu tecido étnico-linguístico, etc. Porém o que se pretende é identificar factores aglutinadores, factores que garantam que os moçambicanos possam viver juntos e em harmonia, com os seus direitos e liberdades fundamentais salvaguardados.
Um “tsunami na cidadania moçambicana” chamado Venâncio Mondlane
Se, como aponta a socióloga Sheila Khan, há um “tsunami na cidadania moçambicana” chamado Venâncio Mondlane, que marcas deixará a sua passagem? “Acho importante perceber que Venâncio Mondlane vai escrevendo uma nova página na política, e na maneira de fazer política em Moçambique”, considera a também investigadora e professora, lembrando o efeito dos resultados eleitorais na Assembleia Nacional. “É preciso pensar como é que a FRELIMO vai dialogar com o PODEMOS [partido que apoia Venâncio], e como é que o PODEMOS pode conquistar um lugar perdido pela RENAMO há muito tempo”, em concreto, “desde a morte de Afonso Dhlakama”.
Se, como aponta a socióloga Sheila Khan, há um “tsunami na cidadania moçambicana” chamado Venâncio Mondlane, que marcas deixará a sua passagem? “Acho importante perceber que Venâncio Mondlane vai escrevendo uma nova página na política, e na maneira de fazer política em Moçambique”, considera a também investigadora e professora, lembrando o efeito dos resultados eleitorais na Assembleia Nacional. “É preciso pensar como é que a FRELIMO vai dialogar com o PODEMOS [partido que apoia Venâncio], e como é que o PODEMOS pode conquistar um lugar perdido pela RENAMO há muito tempo”, em concreto, “desde a morte de Afonso Dhlakama”.
Foto de Yassmin Forte
O xadrez político em Moçambique joga-se num novo tabuleiro – que se estende das redes sociais às ruas –, e com uma mudança de regras que a liderança da Frelimo, instalada no poder desde a Independência, foi incapaz de antecipar.
“Só agora é que o Governo abriu os olhos, e se apercebeu que o povo, a democracia, a cidadania moçambicana vive nas redes sociais, e foi aí que o Venâncio Mondlane conseguiu efectivamente granjear e conquistar [apoio]”, nota a socióloga Sheila Khan.
Atenta à actualidade no país do Índico, onde nasceu, a também professora e investigadora é uma das pessoas que, em Portugal, se tem dedicado à análise do que acontece do Rovuma ao Maputo.
Ainda assim, refere que ficou “tristemente surpreendida” com as convulsões pós-eleitorais.
“Tudo apontava para uma fraude eleitoral, mas não estávamos preparados para isto. Como estamos muito próximos dos 50 anos da Independência, pensei, na minha ingenuidade, que haveria um certo respeito, algum pudor e alguma aprendizagem relativamente às últimas eleições autárquicas”, adianta Sheila, recuperando as evidências de fraude que, no ano passado, também levaram o povo a sair à rua, e conduziram mesmo à repetição da votação em alguns distritos.
Já aí, aponta a socióloga, a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) revelou a sua deriva, expressa numa impopular negociação com a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), que, em troca de algumas autarquias, parece ter abdicado de ser oposição.
“Lembro-me perfeitamente de ver uma notícia, em que o título era mesmo ‘A RENAMO quer perder’”, diz a analista, defendendo que a escolha de Ossufo Momade para a corrida eleitoral foi um erro, ao que tudo indica, intencional.
“Indo ao encontro das reflexões de alguns analistas, observo que esta RENAMO é uma oposição fácil, fraca e maleável. É uma oposição que efectivamente a FRELIMO consegue manipular e dominar para alcançar os seus objectivos”.
A “imaturidade” e “irresponsabilidade” da FRELIMO
Os jogos de poder entre aquelas que têm sido as duas principais forças políticas de Moçambique pós-Independência subestimaram, contudo, os elevados níveis de insatisfação popular, capitalizados por Venâncio Mondlane.
Excluído da disputa à liderança da RENAMO, Venâncio abandonou o partido – onde militava desde 2018 e assumia crescente protagonismo –, e renunciou ao mandato parlamentar que exercia, para avançar para uma candidatura independente à Presidência da República. O PODEMOS - Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique foi a plataforma que encontrou para abrir caminho até às urnas, depois de a sua primeira opção – a CAD – Coligação Aliança Democrática – ter sido afastada, sob alegações de irregularidades no processo de inscrição.
“A ingenuidade disto tudo foi pensar que Venâncio Mondlane, não obstante todos os obstáculos que lhe foram pondo pelo caminho, não ia ter a capacidade de contorná-los e de os suplantar. Esqueceram-se de olhar não só para as características da sua personalidade, como para as novas ferramentas de comunicação”, assinala a especialista, lembrando o papel mobilizador que as redes sociais têm desempenhado nesta conjuntura.
Além da forma que escolheu para chegar ao eleitorado e amplificar a sua mensagem, Venâncio popularizou-se pelo conteúdo das intervenções, dirigido aos mais jovens e aos mais pobres.
A crescente projecção pública, assente na sedução do eleitorado moçambicano, no país e na diáspora, tem suscitado desconfianças sobre as suas ligações externas, nomeadamente à extrema-direita portuguesa, e à igreja evangélica sueca.
Para Sheila Khan, contudo, as colagens de Venâncio ao populismo não colhe. “Acho que temos que estudar bem o que é o populismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que estudar bem o populismo e os seus contextos. Nos vários discursos de Venâncio Mondlane, uma das coisas que eu acho que ele não usa – ou que vai usando só de vez em quando – é a questão da elite. E a verdade é que os populistas são anti-elite, é uma coisa que massacram até ao cansaço: essa luta anti-elites”.
Centrando a análise na FRELIMO, a socióloga acusa o partido no poder de não parar de dar mostras de “imaturidade e irresponsabilidade”, traindo a sua própria história.
“A FRELIMO de hoje não é aquela pela qual se pugnou, pela qual tantas pessoas se entregaram. É uma FRELIMO manipuladora, é uma FRELIMO assassina”, sublinha a especialista, de crítica apontada para o controlo exercido sobre as comunicações, e para a repressão policial que ‘varre’ manifestações pacíficas à lei da bala.
Assembleia Nacional renovada
A evidente incapacidade de aceitar os desejos de mudança da população, não pode contudo, avisa Sheila, ignorar a nova configuração de forças parlamentar.
“A Assembleia Nacional de Moçambique tem uma nova oposição que é o PODEMOS, que roubou lugar à RENAMO e ao MDM [Movimento Democrático de Moçambique]. Agora é preciso pensar como é que a FRELIMO vai dialogar com o PODEMOS, e como é que o PODEMOS pode conquistar um lugar que foi perdido há muito tempo pela RENAMO”, em concreto, “desde a morte de Afonso Dhlakama”.
O que se segue? Sheila Khan antecipa novas tentativas de coaptação, à semelhança do que aconteceu após as autárquicas, mas duvida da sua eficácia.
“Há rumores de negociação nos bastidores, mas Venâncio Mondlane é um homem inteligente, arguto, e tem uma coisa que nenhum dos líderes dos outros partidos tem, que é a capacidade de, neste momento, ser um tsunami na cidadania moçambicana. Nem o Ossufo Momade, nem o Lutero Simango…ninguém conseguiu fazer isto”.
Que marcas deixará tudo “isto”?
“Estamos no momento do desespero. A população continua a dar o peito às balas, porque as pessoas percebem que já não têm nada a perder”.
Ou, como dizia um dos cartazes exibidos nos protestos em Maputo: “Roubaram-nos até os sonhos”.
Sheila Khan
Golpes de humanidade: a força do boxe contra ódios e preconceitos
De treinos abertos a quem se quiser juntar, Valter Ventura derruba, encontro após encontro, os muros que, fora do “seu” ginásio, desumanizam a sociedade, cada vez mais fechada para a diferença. Contra os discursos e as práticas políticas que impõem fronteiras entre “nós” e “os outros” – e fabricam percepções de insegurança para alimentar narrativas de medo –, o antigo pugilista faz do boxe lugar de pertença, e de novas possibilidades.
De treinos abertos a quem se quiser juntar, Valter Ventura derruba, encontro após encontro, os muros que, fora do “seu” ginásio, desumanizam a sociedade, cada vez mais fechada para a diferença. Contra os discursos e as práticas políticas que impõem fronteiras entre “nós” e “os outros” – e fabricam percepções de insegurança para alimentar narrativas de medo –, o antigo pugilista faz do boxe lugar de pertença, e de novas possibilidades. “A partir do momento em que entram aqui dentro, só há três perguntas, e são iguais para todos: Como é que se chamam, já fizeram algum desporto de combate, têm alguma lesão?”, enumera Valter, em entrevista ao Afrolink. Antes da conversa, e para além dela, acompanhámos um dos três treinos semanais que dá, gratuitamente, em Lisboa. Sempre de punhos cerrados contra exclusões, ódios e preconceitos.
Valter Ventura, num dos treinos, em Lisboa
“Como é que se diz 75 em francês?”. A pergunta interrompe uma série de exercícios, que aquecem e expandem movimentos num ginásio, no centro de Lisboa.
Mais do que demonstrar, com o próprio corpo, a posição que se segue, o treinador Valter Ventura vai calibrando, à medida que o treino de boxe avança, a intensidade e frequência de cada gesto.
“Setenta e cinco? Soixante-quinze!”. A resposta à pergunta do antigo pugilista desbloqueia a comunicação com os alunos senegaleses, e volta a acelerar o ritmo, marcado por um repetitivo – e contagiante – manear.
“Toca no ombro. Sobe com a esquerda, desce com a direita. Agora em diagonal. Dobra menos as contas. Olha os joelhos”.
As indicações do mestre Valter cumprem-se em duplas, que se vão formando no compasso das chegadas. Rita, Joana, Rodrigo, Júlia, Luca..Guadalupe…
Os nomes circulam nos cumprimentos a cada entrada, sinalizam ausências, e humanizam movimentos durante o treino, a espaços pontuado de orientações em francês.
“Attend! Espera! Espera pelo golpe para meter o ombro. Protege-te! Não arrastes os pés. Não quero ouvir os assobios dos ténis. Atenção aos olhos abertos quando o adversário está a atacar.”
As pausas corrigem posturas e enquadram novas direcções, ao mesmo tempo que evidenciam as diferenças de condição física no grupo, inicialmente formado com estudantes do ensino básico e secundário, e, nos últimos cinco meses, alargado a pessoas migrantes.
“Comecei por ir às escolas dos agrupamentos aqui à volta, falar com professores de Educação Física e dizer: estão aqui treinos de boxe gratuitos”. O passa-palavra trouxe os primeiros alunos e, mais recentemente, chegou aos ouvidos do pessoal da Cozinha Migrante dos Anjos, ponte para novas possibilidades.
“Se disser que inicialmente o meu francês era medíocre já me estou a gabar”, graceja Valter, enquanto procura uma definição melhor. “Sofrível também não é a palavra…era verdadeiramente deplorável”, diz, exemplificando: “Conseguia contar até 10, dizer umas coisas e apontar”.
Menos de seis meses depois, salta à vista o desembaraço linguístico.
“O boxe tem aqui uma coisa bonita, que é uma espécie de ritmo e de repetição. Portanto, as palavras acabam também por ser quase sempre repetidas. Então, à noite ia ao tradutor e procurava algumas palavras em francês de que ia precisar. Descobri depois que o tradutor também tinha Wolof e, já que estava a aprender, comecei assim a introduzir esta língua”.
O processo, conta o também fotógrafo e professor universitário, beneficiou ainda do apoio da turma. “Agora há palavras que eu sei dizer em Wolof, mas que não sei dizer em francês”.
Ginásio sem fronteiras
Seja qual for o idioma, todos são bem-vindos nos treinos de Valter Ventura, há pouco mais de um ano fixados entre freguesias de Lisboa. É por aqui que, três vezes por semana, o treinador não só se empenha em derrubar muros, como o faz sem cobrar um cêntimo.
“Comecei a dar treinos gratuitos há cerca de três anos”, assinala, adiantando que a escolha se impôs, diante do acentuar de clivagens sociais.
Desde logo, explica Valter, os clubes desportivos onde trabalhava sofreram com a gentrificação e turistificação de Lisboa.
“A população começou a sair, a vender as casas ou a não conseguir pagar rendas e tudo mais”, recorda, de volta à temporada em Campo de Ourique, estabelecida “junto à Maria Pia, ali, ainda a apanhar o resto daquela zona que era o antigo Casal Ventoso”.
A descaracterização levou-o a buscar uma mudança, mas a transferência para Campolide, numa geografia muito próxima, trouxe outra confrontação: a subida de preços não se ficou pelo mercado da habitação.
“Ao fim de quatro ou cinco meses, não só a mensalidade subiu, como os valores deixaram de ser praticáveis para alguns dos rapazes que tinham vindo comigo de Campo de Ourique”.
Ao mesmo tempo, lamenta o treinador, metade dos praticantes passaram a ser nómadas digitais, mais interessados em fitness do que propriamente no boxe. “Percebi que não era o sítio onde eu devia estar”.
A freguesia de Marvila, e em específico a zona de Chelas, tornou-se o destino óbvio, porque alguns dos antigos alunos tinham-se mudado para aí com as famílias.
Da intervenção resultou a confirmação da vontade de alargar o impacto, e Arroios surgiu como possibilidade.
“Perguntei se tinham um espaço para eu dar treinos, e coloquei como condições que não poderiam cobrar mensalidades, e que eu teria a liberdade de escolher a quem é que eu queria dar os treinos”.
Os termos do compromisso libertaram o processo de burocracias, facilitando uma prática de portas abertas, fundamental para aproximar “mundos”. “A partir do momento em que entram aqui dentro, só há três perguntas, e são iguais para todos: Como é que se chamam, já fizeram algum desporto de combate, têm alguma lesão?”.
A partir dessa ‘abolição de fronteiras’, sejam elas linguísticas, étnico-raciais, religiosas ou de qualquer outro tipo, deu-se o encontro com núcleos de pessoas migrantes.
“A palavra espalhou-se, e em meados de Junho deste ano, apareceu aqui o pessoal da Cozinha Migrante dos Anjos, e perguntou se os rapazes, que na altura estavam a viver em tendas à volta da Igreja dos Anjos, podiam vir treinar”.
Cooperação de possibilidades
O grupo, que até Setembro chegou a juntar 14 pessoas dos 19 aos 26 anos – das quais oito com presença constante e consistente –, animou ideias de constituição de uma equipa para competir, rapidamente desfeitas – e refeitas – pela realidade.
“Percebi que tudo isto é muito volátil. Ou seja, a situação em que estão é altamente precária, por isso, pensar em formar uma equipa seria pensar no pior cenário possível, de que iriam continuar a não ter nenhuma alternativa de vida, e a vir cá por causa disso”.
Felizmente, têm surgido opções, assinala Valter, explicando que o velho núcleo duro de partida já não existe, porque muitos conseguiram trabalho fora de Lisboa, nomeadamente em Évora, Beja, Sesimbra e Porto.
“É triste, porque de repente eles desaparecem e nem temos tempo de nos despedir. Vão de um dia para o outro, porque há circunstâncias da vida e há trajetórias que estão a ser decididas”.
Nesses fluxos migratórios, os trânsitos do Senegal e da Mauritânia têm sido os mais regulares, observa o treinador, que, a cada treino, não se limita a gerir pessoas.
“Nem toda a gente tem luvas. Há uns que estão a fazer um exercício, outros a fazer outro e, a meio do exercício, quem tem luvas troca e dá a quem não tem”.
O equilíbrio seria ainda mais difícil sem cooperação e entreajuda, valores que o antigo pugilista faz questão de consolidar.
“Fui falar com as pessoas que me tinham acolhido em Marvila, e disse: tenho um projecto novo em Arroios, e estou um pouco entalado porque tenho muita gente e ninguém tem luvas”. Na altura, o grupo encaminhado pela Cozinha Migrante dos Anjos estava nos máximos, e era urgente encontrar solução.
“Eles disseram que desde que tinha saído dali, não tinha voltado a haver treinos de boxe. Como tinham comprado algum material quando eu estava lá a dar treinos, doaram o material que tinham. Isso foi muito bom porque tornou as aulas mais possíveis”.
Com elas, percebe-se pelos movimentos, as vidas que por ali passam também são mais possíveis.
A de Samba é um bom exemplo. Alfaiate especializado na criação de peças de vestuário e acessórios de moda – onde sobressaem os panos africanos –, o senegalês assume no ringue um lugar de pertença e liderança que, fora dele, políticas e práticas anti-imigração convergem para inviabilizar.
“É um dos melhores da turma. Vem sempre, nunca falha”, elogia Valter, que encontrou no alfaiate um apoio essencial. “As pessoas novas que chegam aprendem com o Samba, que, nitidamente, tem o respeito de todos. Mesmo os rapazes que já cá estavam antes expressam essa admiração”.
Pelo contrário, lamenta o treinador, “lá fora é como se todas estas pessoas – o Aziz, o Adam, o Abdulai o Samba… – não fossem indivíduos. São tratados como um colectivo que responde por todas as coisas que esse colectivo faz. E, pior ainda, estão a responder por coisas que o colectivo não fez”.
Travar deriva desumanizadora
A recente megaoperação “Portugal sempre seguro”, que, na passada sexta-feira, 8, musculou o Martim Moniz de repressão e presença policial é reveladora disso mesmo.
“No decurso desta acção, vários imigrantes foram transportados para centros de instalação temporária ou notificados para abandonarem voluntariamente o país”, denunciou o SOS Racismo, lembrando que “nas últimas semanas, a perseguição a imigrantes intensificou-se em todo o país, com especial incidência em Lisboa”.
Através de um comunicado, o movimento anti-racista acusa o Governo de adoptar uma “política persecutória e infame de ‘caça ao imigrante ilegal’”, em linha com “o programa xenófobo e racista da extrema-direita”.
Contra o que designa de “consagração da visão securitária e xenófoba sobre os fluxos migratórios”, o SOS assinala que esta via de intervenção representa “um verdadeiro retrocesso na defesa e salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias fundamentais num estado de direito, e um ataque aos direitos humanos de imigrantes”.
Para o Governo, contudo, operações como aquela que aconteceu no Martim Moniz vieram para ficar. “Temos várias calendarizadas, demos instruções às forças de segurança para continuarem a fazer este trabalho no terreno”, anunciou o ministro da Presidência,
A partir das palavras de António Leitão Amaro, extrai-se, uma vez mais, a ideia de que imigração, ilegalidade e criminalidade são indissociáveis. “Quando detectam situações de imigração ilegal, os abusadores e os traficantes devem ser penalizados criminalmente e quem está ilegal em território nacional deve ser sujeito a uma medida de afastamento”, disparou o governante.
Com este posicionamento, o Executivo liderado por Luís Montenegro deixa à vista “a desproporcionalidade dos meios investidos na “caça ao imigrante ilegal” por oposição aos que são investidos para assegurar o dever de resposta, em tempo útil, às justas aspirações de imigrantes que procuram Portugal como país para viver”, nota o SOS.
Valter Ventura não precisou de mais este episódio para compor o retrato de uma deriva desumanizadora.
“Por causa do medo, ignorância e ódio que se coloca em cima de quem chega, ouvimos sempre o discurso de que ‘eles’ são perigosos. Existe sobre essas pessoas uma espécie de condenação prévia a qualquer crime que possa vir a acontecer, quando os factos negam essas ideias”.
Atento a essas e outras narrativas de discriminação, o treinador nota que abandonámos o domínio racional, para entrar num “mundo animal, em que a percepção pública que é criada, pela repetição das mesmas histórias, estereótipos e mentiras, tem mais validade do que a realidade”.
De punhos cerrados para combater essa desumanização, Valter faz do boxe lugar de pertença, e de novas possibilidades.
“Pode parecer que estamos a falar uma coisa de agressividade e que eu, enquanto treinador, o que devia fazer era estimular a agressividade. Mas a agressividade é uma coisa animal, e o que eu quero é que eles sejam absolutamente racionais. Eu quero que eles não fechem os olhos quando sentem que estão a ser atacados. Quero que pensem na respiração, que respirem com os golpes do adversário, que antecipem os movimentos que estão a ser feitos”.
Nesse contínuo de ensinamentos, entre noções sobre postura e detalhes de técnica, a aprendizagem faz-se sem vislumbre de atrito.
“Tudo aquilo que eu estou a fazer e outro treinador de boxe faz é substituir um lado primário, as reações primárias – como encolher-me ou bater porque me estão a bater – por reacções que são absolutamente racionais”, prossegue Valter, lembrando a ligação ao xadrez.
“É um desporto de antecipação: para cada golpe, existe um contragolpe certo, para cada movimento existe um contramovimento. E é preciso estar absolutamente calmo, presente e tranquilo perante a outra pessoa, e compreender o que está ali a acontecer: o som do outro, a respiração, os pequenos tiques que tem, e que permitem antecipar gestos. Isso é uma coisa muito humanizante, e é preciso estarmos sempre a trabalhar nisso”.
Golpe a golpe. Contra ódios e preconceitos.
O livro da vida de Ilda escreve-se com música, para virar páginas de dor
A canção "África" marca a estreia discográfica de Ilda Vaz, que, aos 57 anos, aprofunda a assinatura musical desenvolvida a partir da fundação de um grupo de batukaderas, no bairro da Boba, na Amadora. O tema, da autoria da cabo-verdiana, está, desde o início de Setembro, disponível nas plataformas digitais, e dá expressão artística a um de muitos episódios racistas que viveu e vive desde a infância, período marcado por uma viagem no “barco da escravatura”. A experiência é recordada na conversa com o Afrolink, que, além de revisitar marcos de vida, traça planos para um “futuro de esperança”.
A canção "Áfrika" marca a estreia discográfica de Ilda Vaz, que, aos 57 anos, aprofunda a assinatura musical desenvolvida a partir da fundação de um grupo de batukaderas, no bairro da Boba, na Amadora. O tema, da autoria da cabo-verdiana, está, desde o início de Setembro, disponível nas plataformas digitais, e dá expressão artística a um de muitos episódios racistas que viveu e vive desde a infância, período marcado por uma viagem no “barco da escravatura”. A experiência é recordada na conversa com o Afrolink, que, além de revisitar marcos de vida, traça planos para um “futuro de esperança”.
As letras soltam-se em momentos de confronto e adversidade. “Quando estou chateada, a única libertação é a música”, conta Ilda Vaz, desde a infância habituada a transformar os desafios da vida em melodias.
Nascida em Cabo Verde há 57 anos, a fundadora do grupo Batukaderas Bandeirinha Panafrikanista Di Lisboa, recorda, sem uma nota de hesitação, o momento em que trauteou o primeiro tema.
“Tinha três anos, e estávamos no barco que nos levou para São Tomé e Príncipe”, diz, colando flashes do que viveu a um extenso arquivo de memórias maternas.
“Cresci a ouvir esta história: de uma senhora que foi mãe durante essa viagem, morreu e foi atirada para o fundo do mar. Depois entregaram a bebé à irmã, para criar. Disseram que essa menina se chamava Ana Mafalda”.
Estávamos em 1969, Ilda era ainda muito pequena para registar o episódio com tanto detalhe, mas, garante, todas as emoções que acompanharam a saída de Cabo Verde ficaram-lhe gravadas.
Assim que entrou no barco, por exemplo, a sensação de despertença impôs-se. “Isto é estranho. Aqui não é a nossa casa”, recorda-se de ter sentido, puxando para a conversa com o Afrolink não apenas as impressões, mas também algumas descrições.
“Lembro-me da rua onde vivíamos, de um cão, de uma vaca que era preta e branca, e de um caminho estreito que fizemos até entrar num carro, que nos levou à cidade da Praia”.
Naquela altura, São Tomé e Príncipe parecia oferecer um destino melhor para a família, mas entre a promessa de uma vida digna, lavrada em contrato, e a realidade do dia-a-dia, Ilda relata um contínuo de violência.
“Percebi, depois, que aquele era um barco de escravatura”, sublinha, de volta a um capítulo de vida carregado de humilhações e abusos.
“A minha mãe trabalhava na mata do cacau, parida de um mês, com o bebé nas costas, debaixo de chuva. Trabalhava doente”, denuncia, acrescentando que se hoje mal fala português é porque nem os contratados tinham direitos laborais, nem os filhos tinham acesso à educação.
“Depois do 25 de Abril, é que começa a haver isso de ir para a escola, mas também não era para todos”, contrapõe, enquanto revisita episódios de profunda dor. “Tenho muita coisa para contar, coisa de dar nervos mesmo!”, aponta esta trabalhadora do serviço doméstico, sem nunca perder a sintonia do amor.
“Canto para ajudar o nosso povo, o povo de África a ter coragem, a lutar sem odiar, porque o nosso caminho não é de ódio”.
Áfrika, a música de todos
Com a voz projectada sobre a dor das experiências que vive individualmente e que vivemos colectivamente – nomeadamente de racismo –, Ilda vê na música um canal de conhecimento e reconhecimento.
“Como não estudei, a única forma de fazer um livro é a cantar”, nota, sem mãos a medir para o tanto que importa musicar.
Começou por “Áfrika”, o seu tema de estreia, apresentado no final do Verão, e entoado a partir de uma agressão racista sofrida há cerca de 10 anos.
“Trabalhava numa farmácia, e um dia entrou um senhor com um cão grande, todo negro. Eu estava ali a limpar, e o homem olhou para mim com um ódio tão grande, que disse assim para a minha patroa: ‘Olha, tira essa preta daí porque o meu cão não gosta de pretos’. Eu ouvi, mas fingi que não estava a entender, e fiquei em silêncio, quieta”.
Sem tempo para digerir o ataque, Ilda confrontou-se com uma nova agressão: recebeu ordens para se remeter ao piso inferior, e de só voltar a subir quando o cliente saísse, não fosse o animal ficar agitado.
“Perguntei logo: será que é o cão que não gosta de mim, ou é o dono?”.
Para a dona da farmácia não fazia diferença, porque, conforme fez questão de sublinhar, enquanto dava a ordem de clausura, não iria perder um cliente por causa dela. Que é como quem diz, por causa de “uma preta”.
Ilda explodiu em lágrimas, mas, uma a uma, todas foram secando à medida que a letra “Áfrika” se compunha dentro de si. “Dei esse nome porque é música para todos e todas. Para a gente ficar com a vista mais aberta”, explica, visibilizando e vocalizando atenções para a necessidade de um combate anti-racista.
Ao mesmo tempo, “Áfrika” sobressai como uma fonte de energia renovável. “Tenho a minha mãe, que não está bem de saúde, a viver comigo, tenho oito horas de trabalho diárias, tenho as actividades das batukaderas, tenho a casa para arrumar, comida para fazer e, cada vez que não sei como faço tudo isso, fico ainda mais forte”.
Música contra discriminações
Casada há 34 anos, recém-comemorados, e mãe de três, Ilda esbarra numa série de desafios ao seu processo criativo. A começar pela gestão do quotidiano doméstico.
“Eu passo muito mal para fazer letras aqui em casa”, exemplifica, partilhando, entre risos, uma reclamação habitual. “Dizem que sou muito barulhenta, que toda hora estou a cantar. Mas quando a gente gosta a gente não se enerva”.
Mais do que gostar de soltar a voz, a batukadera destaca o efeito catártico das letras surgem a cada trauma, como aquele que traz da infância em São Tomé e Príncipe.
Além da consciência precoce de exploração trabalhista, que massacrou a vida dos pais, a compositora percebeu muito cedo como a pele negra é tratada como “um defeito”.
“Um dia estava a brincar à porta de uma senhora branca, portuguesa, mulher do feitor da roça. Eu era moça pequenininha, a crescer, e ela saiu na janela e insultou-me. Foi tão…”, as palavras falham diante da desumana lembrança, antes de prosseguirmos com a conversa.
“Isso ainda está comigo, e vai ficar. Ela disse: ‘Sua preta, sai daí, vai para a sanzala, canalha, suja, preta do c******.”
Incapaz de entender tamanha violência, a pequena Ilda deu por si a reparar: “Mas eu não estou suja”!.
Ainda com cada um e todos aqueles insultos agarrados à pele, a cabo-verdiana fez deles música.
“O que sinto, o que vejo, o que eu passo todos os dias nas limpezas, e o que os meus irmãos passam, tudo isso está nas minhas letras”, nota, libertando, através das composições, o peso de múltiplas discriminações.
Frente feminina
Desde 1996 em PortugaI, destino de tratamentos médicos do marido – que veio para fazer hemodiálise –, Ilda não esconde o cúmulo de desencantos: “Olha, o negro nunca é bem-vindo para a raça branca. Nunca, nunca, nunca”, insiste, alertando para alguns cuidados a ter.
“A maior parte da nossa raça negra está a entrar num portão que não é nosso. Então eu digo: entra para entender, para perceber, para estudar, mas nunca esquece que, no espírito deles, você não pertence. Por isso, deixa uma fuga para sair, e para outros irmãos entrarem”.
Calejada em episódios racistas, a batucadeira reforça os alertas. “Para eles nós estamos aqui só para trabalhar. Não servimos para mostrar o país, não servimos para ser ministros, não servimos para ser presidentes, porque Portugal tem que ser branco. Nós, negros, temos de estar atentos a isso, e não deixar a cabeça cair em enganos”.
À letra das próprias recomendações, Ilda cuida da mente como quem gere uma biblioteca. Sem desmerecer o lugar “bom” do coração, a cantora defende que “a nossa cabeça é o nosso mundo, porque guarda tudo, tem ferramentas lá dentro, uma espécie de motor”.
Atenta a esse funcionamento, a cantora faz da memória um bem maior, e da saúde mental uma riqueza. Por isso, da mesma forma que encontrou na música uma via para processar vivências dolorosas, e transformá-las em mensagens, Ilda quer contribuir para que mais mulheres africanas descubram a sua força de libertação.
“Há muitas senhoras que têm muito para falar, pessoas da minha idade, com muitas histórias para contar. Mas ficam travadas, às vezes com medo e vergonha, e não mostram a capacidade que têm. Estão a adoecer com depressão. Eu quero estar com elas, e apoiar.”
Os planos passam pela criação de um espaço de mulheres, onde mais novas e mais velhas se possam encontrar, entreajudar e crescer juntas. Unidas para que até o choro que partilhamos seja “de futuro e de esperança”.
De boas intenções pode estar o Governo cheio. E as acções?
Sem apresentar medidas concretas para combater o racismo, e em particular a violência policial contra corpos negros, o Governo recebeu, na passada terça-feira, 29, representantes de colectivos da Área Metropolitana de Lisboa que actuam em bairros municipais. O encontro, no qual o Afrolink esteve presente, evidenciou a necessidade de uma articulação entre as instituições públicas e a sociedade civil, apenas pontualmente – e em situações críticas – chamadas a intervir. Os dias que se seguiram à morte de Odair Moniz, às mãos da polícia, tornam igualmente óbvio que a o compromisso e consciência colectivos sobre questões raciais, continua restrito a planos de intenções.
Sem apresentar medidas concretas para combater o racismo, e em particular a violência policial contra corpos negros, o Governo recebeu, na passada terça-feira, 29, representantes de colectivos da Área Metropolitana de Lisboa que actuam em bairros municipais. O encontro, no qual o Afrolink esteve presente, evidenciou a necessidade de uma articulação entre as instituições públicas e a sociedade civil, apenas pontualmente – e em situações críticas – chamadas a intervir. Os dias que se seguiram à morte de Odair Moniz, às mãos da polícia, tornam igualmente óbvio que a o compromisso e consciência colectivos sobre questões raciais, continua restrito a planos de intenções.
Procuro notícias sobre a morte, às mãos da polícia, de Odair Moniz. Neste exercício de pesquisa online, entre artigos de jornal e peças televisivas, encontro suspeitas de falsificação de provas que estarão a ser investigadas pela PJ; uma série de relatos de “distúrbios” e “desacatos” nos “bairros sociais”; declarações do advogado do agente que atirou a matar; descrições de velhas e novas imagens de videovigilância captadas na madrugada fatal; teorias sobre os limites da legítima defesa; e um penoso rosário de intervenções políticas.
De declarações rápidas a pronunciamentos mais longos, confirmo, a partir dessa cobertura noticiosa, que a vida de Odair, violentamente encerrada aos 43 anos, desperta menos comoção do que a destruição de autocarros, carros e caixotes de lixo.
Basta analisar como dirigentes públicos, governantes e líderes partidários não pouparam na veemência na hora de condenar os protestos que se seguiram à violência policial, mas expressaram (aqueles que o fizeram) confrangedora inibição no momento de repudiar a actuação policial que resultou na morte de Odair.
É verdade que lamentaram a tragédia, e garantiram que o caso será adequadamente investigado, mas, acima de tudo, estiveram mais entretidos a recomendar calma, moderação e tranquilidade, dando lições de ‘civismo’ aos ‘selvagens’ , e esquecendo-se que a revolta dos bairros não surgiu num vácuo.
Porque é que a nossa ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, é peremptória em classificar de “perfeitamente inadmissíveis” o que classifica de “distúrbios” mas, ao referir-se à morte de Odair, não vai além de uma reacção frouxa e conformada, classificando a perda de uma vida irreparável de “infeliz incidente”.
A diferença não é meramente semântica. De um lado temos o que se traduz num assumido e proactivo compromisso de acção: "Tudo faremos para levar aqueles que participaram nestes tumultos à justiça”, garantiu a titular do MAI. Do outro lado, encontramos a contenção do costume, porque – ao contrário do que acontece com propriedade privada incendiada – a violência que vemos acontecer nos bairros de maioria negra nunca é suficiente.
“A nossa cor é a arma que eles temem”
Exemplo disso mesmo – que me faz abrir aqui um parêntesis – é a reacção da comentadora Maria João Marques diante de um vídeo exibido na SIC Notícias, em que vemos um homem negro ser agredido por dois polícias.
Aos olhos de Maria João Marques (que felizmente se confrontaram com os de Paulo Baldaia), nada há de errado em termos agentes altamente armados a atirar para o chão uma pessoa desarmada, que, segundo se vê nas imagens, faz de tudo para mostrar – despindo-se – que não representa uma ameaça.
Talvez Maria João Marques precise, conforme sugeriu Paulo Baldaia, de viver algo semelhante para avaliar se estamos ou não perante um acto de violência.
Sabemos, contudo, que a pele branca funciona como um escudo de protecção contra esse tipo de abordagens policiais, criminosa e racialmente musculadas.
Pelo contrário, conforme nos lembrava um dos cartazes que, no último sábado, 26, povoaram a Avenida da Liberdade – na marcha de homenagem a Odair Moniz, organizada pelo movimento Vida Justa –, “é impossível estar desarmado quando a nossa cor é a arma que eles temem”.
Neste “eles” não cabem apenas os polícias, mas é sobre eles que, neste caso, importa centrar a discussão. Afinal, é às suas mãos que os nossos homens negros continuam a morrer. E, por mais que tentem normalizar e justificar a violência policial racista, inventando ameaças inexistentes, nós continuaremos a contestá-la sem reservas, algo que o Governo hesita em fazer.
Quando a ministra da Administração Interna se refere à morte de Odair como um “infeliz incidente”, não estará certamente a minimizar a tragédia, mas está, em larga medida, a desresponsabilizar o agente.
“Mandei abrir o inquérito para saber exactamente, em termos exaustivos, o que aconteceu”, anunciou Margarida Blasco na ressaca da morte, escusando-se a apontar o óbvio: mesmo que tivesse de usar a arma – e neste caso os indícios sugerem que não tinha de o fazer –, o agente nunca deveria atirar a matar.
Antes dele, muitos outros que também não o deveriam fazer, fizeram-no, sem que ficássemos a saber o que aconteceu, “em termos exaustivos”, para que, perante tantas evidências de abuso policial e racismo, tivessem sido absolvidos.
Diálogo minado de desconfianças
Como esperar, neste quadro, que haja calma e se aguarde com serenidade o resultado das investigações?
Como confiar numa Justiça que criminaliza o anti-racismo, e transforma vítimas negras em arguidas?
Como dar o benefício da dúvida a um Governo liderado por alguém que, em particular neste contexto, afirma que “não somos um país onde o ódio, as questões raciais tenham uma natureza de preocupação”?
Foi ainda sob o ruído dessa declaração do primeiro-ministro que, na passada terça-feira, 29, o Afrolink se juntou a cerca de 15 representantes de associações e colectivos da Área Metropolitana de Lisboa, numa reunião convocada pelo ministro da Presidência.
Depois de nos guiar pela visão do Executivo para “melhorar as condições da vida concreta das pessoas”, nomeadamente nas áreas da Segurança, Habitação, Saúde e Educação, António Leitão Amaro garantiu que Luís Montenegro “não disse nem quis dizer” que não há racismo em Portugal.
Das intenções às acções, o encontro, classificado de “exercício de escuta histórico”, demonstrou que não há grande distância entre o que o líder do Governo disse e o que o Executivo faz.
Percebe-se, por exemplo, pelas medidas apresentadas por Leitão Amaro, que a dimensão étnico-racial da violência policial e da exclusão social continua a ser desprezada.
Anunciar a reformulação e melhoria da formação pedagógica das forças de segurança, com ênfase nos Direitos Humanos terá a sua importância nos relatórios, mas, no dia-a-dia, não me parece que os polícias desconheçam a desumanidade de espancar pessoas nas esquadras, interpelá-las violentamente na rua, ou tratá-las à lei da bala.
A questão não se resolve com mais ou menos Direitos Humanos, porque o problema está em termos polícias que não reconhecem as vidas negras como humanas. Portanto, à luz das suas práticas racistas, os Direitos Humanos não se aplicam diante de pessoas negras.
O Governo tem a obrigação de conhecer esta realidade, quanto mais não seja porque a própria Inspecção-Geral da Administração Interna – que Margarida Blasco liderou – investiga esse e outro tipo de processos, incluindo denúncias sobre a infiltração de elementos da extrema-direita nas polícias.
O que é feito desses inquéritos?
Enquanto Leitão Amaro reitera toda a confiança nas forças de segurança, “na lógica do princípio de que actuam para cumprir a regra e o respeito pelos Direitos Humanos”, nós continuamos a morrer. E enquanto o Governo se congratula por estar a ouvir representantes da sociedade civil, nós gostaríamos de o ver a agir contra o racismo.
Sem mas, nem meio mas.
“Mataram o Dá!” – no grito de Mónica cabem 23 anos de amor: “E agora?”
A narrativa repete-se nas notícias: sem direito a uma identidade humana, mas com morada “problemática”, e suspeitas de actividade criminosa, os homens negros baleados pela Polícia não têm sequer o direito de gozar do estatuto de vítimas. Pelo contrário, as suas vidas, famílias e bairros vêem-se arrastados para campanhas de desinformação, ódio e linchamentos de carácter. Aconteceu novamente com Odair Moniz, ou simplesmente Dá, atingido mortalmente no tórax e axila por disparos de um agente da PSP. O Afrolink falou com a viúva, Ana Patrícia Moniz, mais conhecida por Mónica, e é guiados pelo seu olhar que aqui estamos.
A narrativa repete-se nas notícias: sem direito a uma identidade humana, mas com morada “problemática”, e suspeitas de actividade criminosa, os homens negros baleados pela Polícia não têm sequer o direito de gozar do estatuto de vítimas. Pelo contrário, as suas vidas, famílias e bairros vêem-se arrastados para campanhas de desinformação, ódio e linchamentos de carácter. Aconteceu novamente com Odair Moniz, ou simplesmente Dá, atingido mortalmente no tórax e axila por disparos de um agente da PSP. O Afrolink falou com a viúva, Ana Patrícia Moniz, mais conhecida por Mónica, e é guiados pelo seu olhar que aqui estamos.
Altar de homenagem a Odair, na casa onde vivia
As contas embrulham-se numa matemática de vida que, a partir de agora, parece condenada a não bater certo, enredada num problema sem solução: a morte. “Tinha 13 anos quando nos conhecemos”, recorda Ana Patrícia Moniz, de seu nominho Mónica, recuando a história aos tempos do bairro 6 de Maio.
Foi aí que ela e Odair Moniz se cruzaram, apaixonaram-se, e nunca mais se largaram. “Casámos em 2008, de papel passado mesmo”, conta a viúva de Odair, ou simplesmente Dá, nome que, desde o início da semana, engrossa a já longa lista de vítimas de violência policial racista em Portugal.
“Eu conheço-o tão bem, tão bem...Cada um com o seu feitio, crescemos juntos, a cada passo, a cada momento bom ou mau”, sublinha ao Afrolink, assinalando que nos seus 36 anos de vida não encontra memórias relevantes sem o seu Dá. Não estranha, por isso, que encontremos Odair tatuado na sua pele.
Juntos construíram 23 anos de história, ligação aprofundada com o nascimento de dois filhos, um de 20 anos e outro de três, núcleo alargado à criação de uma sobrinha.
O legado de amor, visível nas fotografias que povoam o apartamento, situado no bairro do Zambujal, acompanhou Dá até à curva final.
“A senhora é que é a Mónica? Ele estava a chamá-la”. Assim, sem mais, um dos agentes policiais que, na Rua Principal da Cova da Moura, garantia a distância entre os moradores e o local onde Odair foi mortalmente baleado, despachava a conversa.
Pouco passava das seis da manhã, e, no momento dessa troca de palavras, a hair stylist ainda tinha esperança de encontrar e falar com o marido. “Foi o meu filho que me chamou: disse, ‘Mãe, levanta, há alguma coisa com o pai lá na Cova’”.
A morada da morte
De passo acelerado, aos poucos, muito longe de se imaginar viúva, Mónica começou a despertar para a tragédia. Ainda não sabia que Odair tinha sido baleado no tórax e axila, por um agente da PSP, mas, ao perceber para onde tinha sido levado, confrontou-se com o peso da morte.
“O Hospital Amadora-Sintra está ali perto, por isso pensei logo: se foi para o São Francisco Xavier é por causa da morgue”.
A rapidez do raciocínio é perturbadora, por evidenciar um contínuo de perdas.
Quantas delas aconteceram em circunstâncias que levantam suspeitas sobre a actuação policial? Como continuar a dar o benefício da dúvida às autoridades, quando os indícios de abusos se sucedem, e, com eles, a construção de narrativas que criminalizam comunidades e bairros inteiros?
“Eu não sou o dono da verdade, mas o Dá é a pessoa mais calma que eu posso apontar, a pessoa certa para apaziguar certos problemas. Mas os senhores agentes acharam que não, que estava exaltado. Não sei…”.
O testemunho chega-nos de um morador do Zambujal, e rompe um extenso muro de silêncio, erguido como protecção contra a manipulação e instrumentalização – pelos media e políticos – dos discursos que saem do bairro, enlutado desde que a chocante notícia da morte de Odair começou a circular.
“Já mataram um, querem matar outro?”
Nascido na cidade cabo-verdiana da Praia, há 43 anos, Dá veio para Portugal na adolescência. “Vivia na Achada Grande”, recorda Mónica, enquanto segura uma fotografia antiga do marido, transformada numa espécie de portal para boas memórias.
“Dizem coisas sem sentido…que encontraram o Dá com uma faca na mão. O meu marido não é um homem de faca. Ele não anda com faca. Tenho a certeza. Ele não tinha nada porque é uma pessoa pacífica, não de guerra”.
A voz de Mónica vai e vem, enrouquecida e entrecortada pelo som lancinante do choro que vem da sala, onde, horas depois desta conversa com o Afrolink, na terça-feira, 22, novos gritos da família chegam-nos por mensagem.
“A PSP invadiu a casa por volta das 20h. Arrombaram a porta, e, ao mesmo tempo, apontaram uma arma à Mónica, ao irmão e à irmã, e agrediram duas pessoas lá dentro que os confrontaram com o porquê dessa atrocidade. Só pararam com os gritos: “Já mataram um. Querem matar outro?”.
O relato de violência acentua a revolta que se instalou no Zambujal e na Cova da Moura, e que, nos últimos dias, se propagou a vários outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa. À medida que os protestos avançam, e as distorções noticiosas se avolumam, os apelos aos registos audiovisuais aumentam.
“Ninguém gravou [o arrombamento da polícia] porque estavam todos em choque, incrédulos mesmo”, conta-nos uma amiga da família, acrescentando que cerca de uma hora depois da primeira investida, os agentes regressaram.
“Aí já estava uma advogada, que os confrontou”, assinala, enquanto insiste no poder das gravações. “Precisamos de provas de tudo”.
“Precisamos de provas de tudo”
Sem vídeos, será que a PSP teria mantido, em comunicado, as primeiras declarações feitas à comunicação social, de que Odair seguia numa viatura roubada quando foi interpelado pelos agentes?
“Precisamos de provas de tudo”, repete a amiga dos Moniz, antes de partilhar mais um episódio de indignidade policial. “A Mónica foi à Judiciária hoje [quarta-feira, 23] e trataram-na muito mal. Ela diz que se sentiu mal, pediu um copo com água, e responderam que, se quisesse, fosse à casa de banho beber, porque só havia água no piso de baixo”.
Os focos de desumanização, em que o luto por Dá é sucessivamente desrespeitado, não estão circunscritos à actuação das forças de segurança.
Pelo contrário, são disseminados por discursos políticos e narrativas noticiosas inflamadas, em que, sem direito a uma identidade humana, mas com morada “problemática” e suspeitas de actividade criminosa, os homens negros baleados pela Polícia não gozam sequer do estatuto de vítimas. Em vez disso, as suas vidas, famílias e bairros vêem-se arrastados para campanhas de desinformação, ódio e linchamentos de carácter.
Odair, que trabalhava como cozinheiro e, há cerca de sete meses, partilhava com Mónica a gestão de um café no Zambujal, foi rapidamente rotulado de “criminoso”, e a sua morte apontada como exemplo de boas práticas policiais.
“Porque é que não parou?”, “Porque é que resistiu?”, “Porque é que andava ali àquela hora?”. Em diferentes versões, entre comentários nas televisões e nos jornais, e reacções nas redes sociais, acicatadas por responsáveis políticos, o veredicto do julgamento público é profundamente incriminatório e dispensa argumentos de defesa.
Afinal, percebe-se entre ocupações de espaço mediático, se há alguém nesta história digno do benefício da dúvida, só pode mesmo ser o polícia, porventura um “português de bem”.
A última cachupa
Já Odair, esse, não passa, aos olhos de quem o condena, de um “bandido que teve o que mereceu”. Menos um negro da ‘cor da ameaça’. Mais uma pessoa violentamente arrancada dos filhos, mulher, amigos e comunidade.
“Estávamos a sair da música ao vivo, e o Dá tinha ido ao café, no Zambujal, buscar cachupa para os miúdos. Ele estava a voltar para a Cova para comerem todos juntos, quando se cruzou com a Polícia. Eles dizem que o mandaram parar, e que ele não obedeceu. Mesmo que isso seja verdade, é suficiente para matar uma pessoa? Ainda por cima desarmada? Como é que um agente treinado dispara assim, logo para a barriga, em vez de apontar para a perna?”.
As perguntas, colocadas por várias pessoas, num entrelaçado de conversas paralelas, permanecem sem respostas, agravando a desconfiança instalada entre moradores e Polícia.
“E agora?”, inquieta-se Mónica, atordoada pela dor de uma certeza tão aberrante quanto dilacerante: “Mataram o Dá!”.
Fronteiras que condenam: “Fui segregado dentro do meu país”
O passeio “Noz Stória”, conduzido por José Baessa de Pina, ou simplesmente Sinho, guia-nos por “lugares destruídos pela imposição do imperialismo”, e aponta os seus “contributos sociais e culturais nunca reconhecidos”. Ao longo de três horas, o também vice-presidente da Associação Cavaleiros de São Brás, situada no Casal da Boba, na Amadora, fala-nos de “uma história não contada”, de “um espaço que existiu e resistiu”, mesmo diante de expressões quotidianas de violência. Contra tudo e contra todos, “aqui houve felicidade”.
O passeio “Noz Stória”, conduzido por José Baessa de Pina, ou simplesmente Sinho, guia-nos por “lugares destruídos pela imposição do imperialismo”, e aponta os seus “contributos sociais e culturais nunca reconhecidos”. Neles cabem festas que celebram rituais e identidades que o colonialismo criminalizou e a polícia continua a reprimir, e também o acolhimento de todas as pessoas, a determinada altura da história, povoado de hordas de filhos de famílias brancas e privilegiadas, expulsos de casa entre percursos de toxicodependência. Ao longo de três horas, o também vice-presidente da Associação Cavaleiros de São Brás, situada no Casal da Boba, na Amadora, fala-nos de “uma história não contada”, de “um espaço que existiu e resistiu”, mesmo diante de expressões quotidianas de violência. Contra tudo e contra todos, “aqui houve felicidade”.
Sinho, o anfitrião do “Noz Stória”
Duas crianças morreram num incêndio, que escancarou a precariedade habitacional em que viviam. Nada mudou. Famílias inteiras perderam tudo com o avanço de cheias, especialmente impiedosas diante da fragilidade infra-estrutural. Nada mudou.
Só quando o negócio das construções rodoviárias se começou a movimentar em redor das Portas de Benfica, é que a realidade nos bairros de auto-construção ali à volta mudou.
O mapa da transformação – em que transacções de asfalto e betão pesaram e continuam a pesar mais do que as pessoas –, traça-se a partir dos passos de José Baessa de Pina, que seguimos durante o passeio “Noz Stória”.
Nesse percurso, construído a partir de memórias individuais e colectivas, Sinho, como o conhecemos, reconstitui caminhos de comunidades desfeitas. Vividas na sua pluralidade – de nacionalidades africanas e de etnias –, e recordadas pela sua força colectiva, bem visível no álbum de fotografias expandido à medida que a rota avança.
“Aqui houve felicidade”, aponta o outrora morador do bairro das Fontainhas, enquanto nos guia por “lugares destruídos pela imposição do imperialismo”, e aponta os seus “contributos sociais e culturais nunca reconhecidos”.
Neles cabem festas que celebram rituais e identidades que o colonialismo criminalizou e a polícia continua a reprimir, e também o acolhimento de todas as pessoas, a determinada altura da história, povoado de filhos de famílias brancas e privilegiadas, expulsos de casa entre percursos de toxicodependência.
Ao longo de três horas, o também vice-presidente da Associação Cavaleiros de São Brás, situada no Casal da Boba, na Amadora, fala-nos de “uma história não contada”, de “um espaço que existiu e resistiu”, mesmo diante de expressões quotidianas de violência.
Exclusão
“Eu fui segregado dentro do meu país. Não é nada inocente”, sublinha Sinho, que encontra nas políticas públicas várias fontes de exclusão.
Por exemplo, nota o anfitrião do “Noz Stória”, o desempenho dos alunos é fortemente influenciado pela escola em que andam, numa demarcação territorial que continua a condenar crianças ao insucesso e abandono precoce dos estudos.
O impacto dessas fronteiras está amplamente reconhecido, por isso, para garantir aos filhos uma educação melhor, há trabalhadoras domésticas que dão a morada dos patrões, explica Sinho, lembrando que a prática – longe de revelar o eventual altruísmo das chefias – acentua relações de dependência. Uma espécie de inversão da dívida histórica, instalada na Escravatura, reforçada no colonialismo, com a violência dos trabalhos forçados dos contratados de São Tomé e Príncipe, e ainda hoje evidente na exploração extractivista do capitalismo, especialmente dura sobre os corpos negros.
“Se essa facilidade [da morada] existe para essas mães trabalhadoras é porque precisam delas com estabilidade”, atira o guia da nossa história, enquanto aproveita para destacar o papel provedor das mulheres nas nossas comunidades.
Foi, por exemplo, graças à sua mãe, e em particular ao amor que sempre recebeu dela, que Sinho não se deixou correr pela raiva e revolta que acompanharam múltiplos episódios de violência racista – tantas vezes indutores de trauma.
“Às vezes, o que safava os nossos pais da intervenção bruta da polícia militar, quando eram parados para entrar no bairro, era o cartão da obra”, assinala, sem esquecer um velho temor. “E se batem na minha mãe?”.
Essas e outras memórias marcam o ritmo do passeio, iniciado nas Portas de Benfica e encerrado diante das marcas do que outrora foi o bairro Estrela D’ África.
Para trás ficaram vestígios das Fontainhas e do Bairro 6 de Maio, atravessados por recordações de rupturas tão abruptas quanto terminais.
Pertença
“Ali, a Dona Rosa e o Tio João tinham porcos, leitões, galinhas, figueiras, e estavam habituados a ir e vir do poço. Depois do realojamento, bastou 1 ano e 30 dias para os dois desaparecerem”.
A lembrança de morte é partilhada por Delson Alexandre, que, tal como Sinho, cresceu entre bairros de auto-construção, entretanto engolidos pelo asfalto.
“Costumo dizer que São Tomé e Príncipe é o meu berço, e esta é a minha casa. O lugar onde quero estar, e onde me sinto bem”, diz Delson ao Afrolink, apressando-se nas distinções. “Quando falo de casa, não estou a falar de Portugal ou de Lisboa, mas sim da Linha de Sintra, da Damaia, do Bairro do Zambujal, da Cova da Moura, da minha Reboleira, da Amadora…a minha Porcalhota”.
O sentimento de pertença e o sentido de comunidade enraizados no passado perduram até hoje, garante Delson, que conserva as antigas relações de vizinhança como quem preserva as mais valiosas ligações familiares.
Muitos, porém, como a Dona Rosa e o Tio João, acabaram por sucumbir à tristeza de uma mudança indesejada.
“Os laços de solidariedade foram quebrados”, comenta Sinho, que responsabiliza o Estado por uma política de abandono.
“Tinha de haver outra solução, outro tipo de realojamento”, defende, recordando as dificuldades de ajuste que sentiu quando, aos 22 anos, se viu obrigado a trocar a morada de toda a vida pelo Casal da Boba.
“Mesmo depois de termos a chave, preferia dormir entre os vários barulhos estranhos das Fontainhas”.
Denúncia
Desperto para cada barreira que foi encontrando, e continua a encontrar, o criador do “Noz Stória”, nascido em 1976 na Maternidade Dona Estefânia, em Lisboa, traça as suas próprias fronteiras: “Não somos pobres, somos empobrecidos”.
Filho de descendentes de cabo-verdianos emigrantes, Sinho defende igualmente que é importante “saber de onde viemos, com os pés no chão”, mas ao mesmo, “sempre almejar mais”. O líder associativo acrescenta ainda que não nos podemos “esquecer da denúncia para a elaboração de políticas de reparação”, dispositivos “de que precisamos urgentemente, para colmatar 50 anos de segregação”.
Desde logo, assinala o nosso guia, importa questionar: “Como dizem que a entrada dos imigrantes é descontrolada, se sempre foi bem controlada?”. Afinal, vemo-la abrir e fechar, à medida dos caprichos do sistema, que põe e dispõe de pessoas como quem manuseia utensílios de produção.
Aliás, as memórias recuam até episódios recorrentes de abuso da polícia municipal que, aproveitando-se de quem, nas ruas, encontrava o seu ganha-pão com a venda de pescado, resolvia ali as necessidades domésticas de peixe.
Violências somadas e multiplicadas, meio século vivido desde a Revolução dos Cravos, Sinho questiona que liberdade existe nas periferias negras, asfixiadas por programas de realojamento que são também de policiamento?
“O sistema sabota a nossa cultura”, considera, dando como exemplo os horários de celebração dos Santos Populares até às 2h, em contraponto com as restrições das festividades dentro da comunidade, silenciadas muito antes da meia-noite.
“A música é uma via de pertença que tem sido travada”, assinala o guia do “Noz Stória”, partilhando outro aspecto da sua identidade precocemente reprimido.
“Eu sinto em crioulo, respiro, penso…e até isso é bloqueado”, adianta, de volta aos bancos de escola, carregados de práticas coloniais.
É também para a Educação aí que se dirige o olhar crítico de Aleksandra Augustynowicz, uma das pessoas no encalço das direcções de Sinho. Há oito anos em Portugal, esta polaca de 29 anos, defende a “importância de consciencializar as pessoas para os factos históricos” que o ensino continua a mascarar. “O que podemos esperar se apenas aprendemos a partir de livros escritos pelos colonizadores?”.
A nossa História não é essa, perdida num labirinto de ficções romantizadas. “Noz Stória” retira-nos daí, e dá-nos caminho para andar. Aproveitemos!
“O racismo existe mesmo?”: do “alto” do seu Observatório, a branquitude ensina
Como se não bastasse o absurdo de termos um observatório branco para combater uma criação branca, agora também temos o absurdo de uma “Pós-Graduação em Racismo e Xenofobia” coordenada integralmente por pessoas brancas, e, até ver, ministrada sem uma única pessoa não-branca. A ausência é notória, e isso ressalta não apenas do mosaico de imagens que acompanha este texto. Para quem pensou essa pós-graduação, as manifestações de racismo não atravessam toda a sociedade. Só “aparentemente” é que as encontramos “em todo o lado – no local de trabalho, nas ruas, nas interacções quotidianas”. Não estranha, por isso, que a sessão 6 da formação arranque com uma pergunta inqualificável: “Mas o racismo existe mesmo?”.
Como se não bastasse o absurdo de termos um observatório branco para combater uma criação branca, agora também temos o absurdo de uma “Pós-Graduação em Racismo e Xenofobia” coordenada integralmente por pessoas brancas, e, até ver, ministrada sem uma única pessoa não-branca. A ausência é notória, e isso ressalta não apenas do mosaico de imagens que acompanha este texto. Para quem pensou essa pós-graduação, as manifestações de racismo não atravessam toda a sociedade. Só “aparentemente” é que as encontramos “em todo o lado – no local de trabalho, nas ruas, nas interacções quotidianas”. Não estranha, por isso, que a sessão 6 da formação arranque com uma pergunta inqualificável: “Mas o racismo existe mesmo?”.
Corpo docente da “Pós-Graduação em Racismo e Xenofobia", lançada pelo Observatório
Recuemos até 2021. Em Março desse ano, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal promovia a conferência "As Mulheres e o Emprego: Um Tema do Homem", na qual propunha debater, “entre líderes masculinos”, a fraca presença feminina em posições de chefia. “Vamos discutir o que trava a ascensão de mais mulheres a cargos de gestão", lia-se na descrição do evento, rapidamente contestado pela total ausência de oradoras.
A CIP dispunha-se a conversar sobre exclusão feminina, e demonstrou, antes mesmo de iniciar a discussão, como as lideranças masculinas urdem para que assim seja. Se dúvidas houvesse, ficou evidente que as práticas machistas e misóginas – e não a falta de candidatas competentes – explicam o excesso de testosterona em lugares de poder e influência.
Dessa constatação à contestação, bastaram uns posts de indignação nas redes sociais para que a CIP recuasse: não só alterou o nome do encontro para "Desta vez: Emprego um Tema de Homens e Mulheres", como decidiu incluir palestrantes femininas – três para seis homens.
Por mais performática que a mudança tenha sido, ela aconteceu, a partir do reconhecimento – que deveria ser óbvio – de que uma discussão sobre a realidade vivida por mulheres não pode descartar a sua presença. Fazê-lo equivale a passar-lhes um atestado de incapacidade, reduzi-las à condição de seres não pensantes e sem autodeterminação.
Fácil de perceber, certo?
Onde reside, então, a dificuldade de entender que um Observatório do Racismo e Xenofobia não pode ser liderado por pessoas brancas e, pior do que isso, só por pessoas brancas, e sem especialização na área?
Como compreender que as pessoas que vivem na pele o racismo e a xenofobia estejam completamente afastadas dessa discussão e intervenção?
Já o dizemos há mais de um ano, mas continuamos a não ser ouvidos, porque as práticas racistas são aceites pela maioria da população branca.
Aliás, como se não bastasse o absurdo de termos um observatório branco para combater uma criação branca, agora também temos o absurdo de uma “Pós-Graduação em Racismo e Xenofobia” coordenada integralmente por pessoas brancas, e, até ver, ministrada sem uma única pessoa não-branca (algumas sessões permanecem sem professor responsável).
A ausência é notória, e isso ressalta não apenas do mosaico de imagens que acompanha este texto.
Para quem pensou essa pós-graduação, as manifestações de racismo não atravessam toda a sociedade. Só “aparentemente” é que as encontramos “em todo o lado – no local de trabalho, nas ruas, nas interacções quotidianas”.
Não estranha, por isso, que a sessão 6 da formação arranque com uma pergunta inqualificável: “Mas o racismo existe mesmo?”.
A mentira que inventou o racismo
Do alto do seu observatório, a branquitude duvida, mas promete ensinar-nos sobre racismo e xenofobia, transaccionando, assim, mais uma actualização sobre a “mentira que inventou o racismo”, tema de uma TED Talk apresentada em 2020 pelo jornalista e documentarista americano John Biewen.
Escrevi sobre ela no manual KINDER “Desconstrução de estereótipos desde a infância”, onde assinei o capítulo sobre “Educação Antirracista e Antixenófoba: a importância do reconhecimento e da valorização das diferenças”.
Partilho convosco parte dessa reflexão, construída a partir das palavras de Biewen.
“Como é que isto aconteceu? Como é que chegámos a isto?”, questionava o jornalista nessa intervenção, partilhando o resultado de anos de inquietações: Quem criou o conceito de raça? Quando?
Sem qualquer expectativa de obter a identificação de uma pessoa ou uma data específica, Biewen conta, nessa palestra, como a resposta do historiador Ibram Kendi o surpreendeu.
“Disse-me que, na sua pesquisa extensiva, encontrara o que considerava ser a primeira articulação de ideias racistas. E designou o culpado: o nome dele era Gomes de Zurara, um homem português”.
Foi a partir das suas crónicas, produzidas por volta de 1450, que os povos de África começaram a ser retratados como “inferiores e animalescos”, ainda que detivessem algumas das culturas mais sofisticadas do mundo.
“Porque é que esse homem afirmaria isto?”, pergunta Biewen, aconselhando a audiência a seguir o rasto do dinheiro. “Zurara tinha sido contratado para escrever para o Rei e, apenas uns anos antes, os comerciantes de escravos vinculados à Coroa portuguesa tinham sido os pioneiros do tráfico de escravos no Atlântico. (…) Portanto, trata-se de dinheiro e poder. De súbito, era bastante útil que existisse uma história sobre a inferioridade das gentes africanas que justificasse a sua comercialização.”
“Mas o racismo existe mesmo?”, perguntam eles. Sabemos.
Nota de redacção: Após a publicação deste artigo, na sequência de diligências da agência de notícias Lusa, ficámos a saber da suspensão da pós-graduação em racismo e xenofobia, desenvolvimento que partilhámos neste artigo:
https://www.afrolink.pt/artigos/racismo-e-fragilidade-branca-duas-faces-do-mesmo-observatorio
Importa igualmente assinalar que, se em Portugal a cobertura mediática das questões raciais se faz de forma enviesada e fundamentalmente de um prisma polarizado, sem profundidade, e sem a inclusão de pessoas negras e de outros grupos étnicos, no Brasil – um dos países de onde nos acusam de “importar” a “moda do racismo” – a denúncia do racismo e o seu combate fazem parte da agenda jornalística.
Isso mesmo demonstra a atenção que a malfadada pós-graduação tem merecido dos media brasileiros. Partilhamos:
Folha de São Paulo
Jornal de Brasília
Revista Centenarium
Nexo Jornal
Deutsche Welle
https://www.dw.com/pt-br/portugal-cancelado-curso-antirracismo-docentes-s%C3%B3-brancos/a-70518525
Assinalamos ainda que, em Portugal, nenhum dos media que replicou a notícia da Lusa revelou interesse em aprofundar o tema, limitando-se a reproduzir o que a agência noticiosa divulga.
Pelo contrário, no Brasil, não só a Folha de São Paulo como a TV Globo quiseram ouvir-nos, tal como, no Reino Unido, aconteceu com o The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2024/oct/16/university-in-lisbon-suspends-plans-for-course-on-racism-taught-by-all-white-staff
Seguimos na luta!
Uma iniciativa para “libertar Portugal do colonialismo”
“Libertar Portugal do colonialismo: reparação e políticas públicas”. Este foi o mote lançado pelo grupo parlamentar do BE, numa audição que no passado dia 20 de Setembro, juntou pessoas que admiro profundamente. A Belinha, que temos a sorte de nos ver representar em tantas frentes políticas, do associativismo às partidárias; o Miguel de Barros que me faz acreditar mais e mais em presentes partilhados e humanizados, e em futuros sonhados; e o Miguel Vale de Almeida, que me habituei a ler entre crónicas no Público, e a admirar por múltiplos posicionamentos fundamentais, nomeadamente anti-racistas.
“Libertar Portugal do colonialismo: reparação e políticas públicas”. Este foi o mote lançado pelo grupo parlamentar do BE, numa audição que no passado dia 20 de Setembro, juntou pessoas que admiro profundamente. A Belinha, que temos a sorte de nos ver representar em tantas frentes políticas, do associativismo às partidárias; o Miguel de Barros que me faz acreditar mais e mais em presentes partilhados e humanizados, e em futuros sonhados; e o Miguel Vale de Almeida, que me habituei a ler entre crónicas no Público, e a admirar por múltiplos posicionamentos fundamentais, nomeadamente anti-racistas. Para minha felicidade, aconteceu-me também estar ali, e ter 10 minutos para falar sobre "Políticas de Igualdade e direitos cívicos". Como não quis desperdiçar um segundo, escrevi. Convido-vos a ler!
Políticas de Igualdade e Direitos Cívicos
Começo por enquadrar a minha intervenção: falo antes de mais como pessoa negra e mulher moçambicana, porque foi a partir dessa dupla pertença que percebi, desde muito cedo, aqui em Portugal, que a minha cor de pele e o meu lugar de nascimento faziam de mim não apenas uma criança diferente da maioria que me rodeava, mas alguém visto como inferior e tratado exactamente como tal.
Por isso, antes de qualquer idealização sobre igualdade, fui confrontada com a vivência da desigualdade.
Enquanto crescia, ser igual representava parecer menos negra e menos moçambicana. Portanto, uma rejeição de mim própria.
Talvez venha daí alguma incompatibilidade que adquiri com a palavra igualdade, que sinto como sinónimo de impossibilidade de ser a pessoa que sou.
Proponho, por isso, que comecemos a falar em políticas e práticas de equidade. Uma via que permita olhar para as diferenças que temos, valorizá-las, em vez de continuar a instrumentalizá-las para dividir e excluir pessoas, a pretexto de intenções de integração.
Aliás, importa sublinhar que eu nunca senti necessidade de ser integrada, o que sempre busquei foi o direito a uma vida humanizada, que começa com a garantia de que ser quem sou – pessoa negra e mulher moçambicana – não faz de mim um alvo de ódio, e alguém privado dos mais básicos direitos de cidadania.
Mas é isso que acontece. Mesmo sem dados estatais que nos permitam conhecer estatisticamente a diversidade étnico-racial existente em Portugal, e compreender de que forma a mesma influencia as nossas condições de vida, sabemos que as escolas segregam crianças racializadas; sabemos que os próprios professores encaminham os alunos negros para trajectórias que os mantenham o mais longe possível da universidade; sabemos que a violência obstétrica é maior quando a paciente é negra; sabemos que a justiça legitima o racismo e criminaliza quem o combate; sabemos que a polícia persegue e mata pessoas negras impunemente, e ainda consegue ser louvada pela sua proactividade.
Sabemos porque vivemos esta realidade quotidianamente. Sabemos também porque tudo isto está estudado. O que falta é reparar.
Reparar, por exemplo, a injustiça de uma lei que impede o A. de ter a cidadania portuguesa. O A. é filho de cabo-verdianos, nasceu em Angola em 1973, e, no ano seguinte, a sua família foi forçada a mudar-se para Cabo Verde, tendo perdido toda a documentação quando a casa em que viviam, em Luanda, lhes foi retirada e incendiada.
Há mais de duas décadas em Portugal, o A. tenta há 16 anos obter a nacionalidade portuguesa, mas esbarra numa exigência que o simples bom senso recomenda que seja eliminada: a apresentação do registo criminal do país onde nasceu, documento que apesar de incontáveis diligências, ninguém consegue providenciar.
O mais certo, conhecendo nós a história de guerra civil que Angola viveu, é que os arquivos tenham sido destruídos.
Se tivéssemos políticas e práticas de equidade, o Adriano, e todas as pessoas na mesma situação, gozariam de um regime de excepção. Bastaria libertar da obrigação de apresentação do registo criminal quem tenha saído dos países colonizados por Portugal ainda menor de idade.
Não o fazer é assumir que nós, pessoas africanas nascemos com cadastro, que somos criminosos até prova em contrário.
Com assumpções como esta, como é que podemos falar de igualdade e de direitos iguais?
Conta-me o Adriano que já gastou milhares de euros no seu processo de cidadania, e que mesmo tendo o título de residente, continua a perder inúmeras oportunidades de trabalho, enquanto profissional freelancer do sector cultural.
Será que alguém nota? E notando, como é que se repara a subtracção de vida, e de vidas?
Falo do caso do Adriano, mas posso falar de muitas outras pessoas negras, nascidas em Portugal, com e sem nacionalidade, e diariamente diminuídas nos seus direitos.
Conheci e continuo a conhecer vários exemplos, que incluem a normalização e institucionalização de práticas racistas, como a imposição, a pessoas negras, de alisamentos ou cortes de cabelo para que possam trabalhar.
Nas escolas por onde tenho andado, procurando sensibilizar contra todas as formas de discriminação, é comum os alunos relatarem comportamentos e comentários racistas.
Trago, como exemplo, três questões que recolhi em tempos junto de alunos entre os 10 e os 13 anos.
Primeira: “Porque é que, na minha turma, são tão rudes com os estrangeiros?”.
Segunda: “Os professores podem dizer que a nossa forma de falar está errada, quando somos de um país que fala outra língua?”.
Terceira: “Por que relacionam os negros com roubo, fraude e feiura?”.
Muitas perguntas ficam sem resposta por falta de interlocutor, tornando evidente a urgência de uma educação anti-racista.
Com tudo o que sabemos, devemos e podemos fazer melhor enquanto sociedade, mas aquilo que está ao alcance dos cidadãos – por mais activos e comprometidos que sejamos – é muito diferente do que está ao alcance de um partido político, de uma Assembleia da República ou de um Governo.
Se hoje estou aqui a ocupar este lugar, a projectar a minha voz, e a partilhar a minha perspectiva, é porque antes de mim – antes de nós – muitas pessoas negras deram a vida por esta possibilidade.
Se hoje estou aqui a ocupar este lugar é porque sei que as pessoas negras continuam a morrer simplesmente por serem negras. Estou aqui também porque sei que a minha voz, não se substituindo a nenhuma outra voz, representa vozes que continuam a ser silenciadas.
Hoje estou aqui, confiante no poder do diálogo, mas consciente de que falar não basta. Importa actuar sobre os problemas.
Importa garantir não apenas hoje, mas todos os dias, a presença, o pensamento e a acção das pessoas negras nesta casa da democracia, e em todas as esferas da nossa sociedade.
Porque mais do que sermos pontualmente ouvidos, aqui e ali, e depois invariavelmente esquecidos, importa sermos vistos, reconhecidos e acolhidos como pares.
Termino a minha intervenção, saudando uma vez mais cada pessoa presente, e renovando o meu compromisso no combate a todas as formas de discriminação e opressão.
Ao mesmo tempo, desejo que haja coragem política para transformar este momento de auscultação num movimento de mobilização contra o racismo, que seja não apenas afectivo – como tem sido até agora – mas efectivo.
A luta continua, e com unidade a vitória é certa!